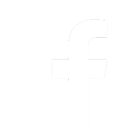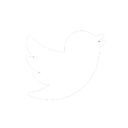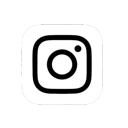O que descobrimos

Maurício Alves da Silva apareceu em abril de 2014 em um protesto no Rio de Janeiro cujo tema era “Cabral, vá em Paes; Pezão, bem-vindo a uma revolução”. Bonito, com um sorriso largo, tinha um celular nas mãos e filmava tudo. Abordado por manifestantes, o brasiliense explicou que era estudante de pós-doutorado em Gestão Pública e estava no Rio fazendo uma pesquisa para sua tese.
Era mentira. Maurício Alves é um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal que trabalha desde pelo menos 2015 para a Força Nacional em operações de inteligência. Entre março e julho de 2014, espionou ativistas, manteve relações com jovens cariocas e escreveu diversos relatórios de inteligência para seu comandante, lotado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Rio. Ia a manifestações e filmava com seu celular, transmitindo as imagens ao vivo para o CICC, onde diversas forças – como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Abin – se reuniam para preparar o esquema da Copa do Mundo. Do prédio espelhado, seus comandantes podiam mandar a PM aos lugares certos para dispersar os manifestantes com pistolas Taser, bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Além disso, Maurício monitorava o Facebook de manifestantes, ajudava a polícia civil a identificá-los e, por ordens de seus superiores, deu um depoimento que baseou um inquérito em que 23 ativistas são acusados do crime de “quadrilha armada”.
Leia mais: um espião contra Eloisa Samy
Sua história ilustra uma transformação radical que ocorreu na segurança pública brasileira durante o ciclo de megaeventos, tendo como marcos iniciais a inauguração de 12 CICCs nas cidades-sede da Copa do Mundo e os protestos de 2013, que aconteceram simultaneamente à Copa das Confederações. A nova cara da segurança no Brasil deve muito a esses eventos esportivos.
Mais de 66% dos investimentos gigantescos feitos pela Secretaria Especial de Segurança em Grandes Eventos (Sesge), subordinada ao Ministério da Justiça, de cerca de R$ 1,17 bilhão, foram usados para a construção do aparato de controle, integração e monitoramento de proporções nacionais. A promessa era deixar como legado dos Jogos um país mais seguro, com forças mais capacitadas para combater os problemas cotidianos. Os CICCs são unidades que reúnem diversas forças policiais no mesmo prédio, dotado de tecnologias como videowall, mesa tática com mapas 3D, telões de LED e acesso a imagens de centrais móveis, helicópteros ou balões dotados de câmeras e gravadores de som. Depois da Copa, foram doados para as secretarias estaduais e são comandados, basicamente, pelas polícias militares.
“O governo brasileiro sempre enfatizou que a segurança dos grandes eventos ia melhorar a segurança pública em geral no Brasil”, diz o pesquisador alemão Dennis Pauschinger. Pauschinger fez sua tese de doutorado sobre a segurança em grandes eventos e passou longos períodos no CICC do Rio como observador durante a Copa e a Olimpíada. “Eu acho que os investimentos tecnológicos e materiais e essa filosofia de integração não deram conta de realmente atender àquilo que é necessário para mudar a segurança pública no país para melhor.”
Ele acredita que o verdadeiro legado foi de “insegurança” em uma das cidades do mundo em que mais cidadãos morrem nas mãos de policiais – foram 8.052 mortes entre 2006 e 2015 – e onde também morrem muitos policiais. “Um legado que houve na Olimpíada de Londres em 2012 – e há estudos que apontam isso – é um aparato policial que está mais pronto para reprimir qualquer protesto público. E eu acho que isso também foi feito no Brasil. Um dos legados foi que o aparato repressivo se intensificou como resultado dos grandes eventos”, diz. No Brasil, tanto na Copa do Mundo como na Olimpíada, a Agência Nacional de Inteligência (Abin) apontou os protestos como uma das principais ameaças à segurança dos turistas e atletas.
Saiba mais: loja de souvenirs tecnológicos
Calcado nessa visão, não foi só o aparato tecnológico que deu um salto. A partir de 2013, o monitoramento contra manifestantes também se expandiu. Estratégias já usadas contra quem investigava as ações da polícia na favela, por exemplo, passaram a ser empregadas contra jovens que saíam às ruas, explica Cecília Coimbra, fundadora e vice-presidente da ONG Tortura Nunca Mais. “A partir de 2013, começa-se a usar a vigilância politicamente. Já se usava pontualmente contra o MST, por exemplo. De forma mais assustadora e generalizada, é a partir de 2013.”
Em muitos casos, porém, a infiltração foi contraproducente: sobraram processos judiciais frágeis, desmentidos públicos, impactos psicológicos sobre as vítimas de infiltração e questionamentos sobre a legalidade desse expediente.
Mais infiltrados
A armação feita contra o carioca Bruno Ferreira Teles acabou sendo uma grande vergonha para a Secretaria de Segurança do então governador fluminense Sérgio Cabral. Em 22 de julho de 2013, o rapaz de 25 anos foi preso por um policial à paisana e acusado diante da imprensa de ter atirado coquetéis molotov na polícia, com direito a cena montada para os fotógrafos e tudo. Enquanto ele era enviado para a penitenciária de Bangu, um mutirão de cinegrafistas anônimos publicou vídeos desmascarando a versão oficial. O processo foi arquivado no dia seguinte.
Leia mais: um flagrante (quase) perfeito

“P2” é o nome dado à polícia secreta, ou velada, uma parte da corporação destacada para levantar informações em meio a investigações de crimes. O nome vem da divisão administrativa da PM, que prevê cinco áreas de atuação: P1 ‐ recursos humanos; P2 ‐ inteligência; P3 ‐ estatísticas; P4 – armamentos; P5 ‐ relações públicas. Seu objetivo é produzir informes para ajudar o comando a planejar operações. Mas, no Rio de Janeiro, não tem sido assim.
Mesmo antes da sua prisão, Bruno Teles já sabia que PMs vestidos de civis atuavam nas manifestações. Ele afirma que, em uma passeata, um P2 incentivou um grupo a ir até o Parque do Flamengo, durante o momento de dispersão. “Quando a gente atravessou, no meio das árvores, no escuro, só acendeu uma luz assim de carro de polícia. E deram muito tiro de bala de borracha.”
Outros casos de abuso cometido por P2 vieram à tona durante os protestos no Rio. Em alguns deles, é possível constatar a atuação de “agentes provocadores” em meio ao tumulto. O advogado Marino D’Icarahy compilou uma série de vídeos sobre o protesto do dia 15 de outubro de 2013, durante o qual o seu cliente Jair Seixas Rodrigues, conhecido como Baiano, é acusado de queimar um ônibus da PM. Jair é um dos réus no “processo dos 23”, no qual ativistas que frequentavam os protestos de 2013 e 2014 no Rio são acusados de “associação criminosa agravada pelo uso de arma e a participação de adolescentes” – ou quadrilha armada. D’Icarahy editou um vídeo eloquente. Nele, um P2 chama atenção dos manifestantes para um ônibus da polícia estacionado entre a rua Santa Luzia e a avenida Rio Branco, no centro da cidade. Pouco depois, o ônibus é queimado. Parado por um colega, ele se identifica como “Papa 2”.“Ele está claramente atiçando o pessoal”, diz o advogado. Veja um trecho do vídeo:
Para o especialista em segurança pública e ex-investigador da Polícia Civil Guaracy Mingardi, o uso de agentes em manifestações é legítimo, mas tem limites claros. “É normal o Estado acompanhar manifestações, inclusive porque pode acontecer alguma cosia que seja crime, se o sujeito põe fogo num lugar, por exemplo, e você tem que identificar quem cometeu o crime. Mas não é para identificar lideranças e reprimir manifestações políticas”, diz. Se há “preparação de terreno”, com a criação de uma “história de cobertura”, trata-se de infiltração. “História de cobertura você usa quando vai fazer espionagem, lidar com caso criminal, com terroristas. Para manifestações, o caso é muito exagerado.”
A pesquisadora Isabel Seixas de Figueiredo, ex-diretora da Senasp, e ex-secretária adjunta de segurança do Distrito Federal, conta que acompanhou, de dentro de CICCs, os agentes de campo realizarem monitoramentos em dias de protestos. “Nem sempre são filmados. Muitas vezes o acompanhamento é por telefone, para avisar se a passeata está indo no trajeto combinado, se tem um grupo que divergiu. Isso não vira uma questão [problemática]. Vira uma questão quando tem fichamento de pessoas, e quando começa a monitorar essas pessoas. Mas mais do que tudo quando você atua como agente provocador. Aí é o cúmulo da ilegalidade.”
“Fichamentos” de jovens manifestantes foi exatamente o que ocorreu em setembro de 2016 em Goiânia, logo após o impeachment de Dilma Rousseff. A Pública teve acesso a um relatório secreto do setor da inteligência da Polícia Militar de Goiás que prova que os policiais mapearam o Facebook em busca de manifestações contra o governo de Michel Temer. O relatório reunia fotos e links de frequentadores de passeatas, listando até telefones e outros atos de que haviam participado. Uma dessas estudantes, que também participava ativamente de ocupações de escolas e do movimento feminista, se lembra de ter visto homens tirando fotos suas. “Eram homens mais velhos, trajando roupa esporte. Foi assim que ‘ficharam’ a gente”, afirma.
Leia mais: O Grande Irmão do Cerrado
“Se o sujeito não cometeu crime, não depredou banco nem sugeriu que depredasse banco, o policial não tem por que monitorar. A ideia é que o Estado tenha um arquivo sobre criminosos, e não sobre a população em geral. Senão vira um estado policial”, avalia Guaracy Mingardi.
Para Isabel Figueiredo, os investimentos bilionários para a Copa do Mundo não mudaram substancialmente as nossas polícias. “Se o governo de Lula e Dilma tem uma dívida, é de não ter mexido nas estruturas de inteligência e segurança no país – até porque eles têm um lobby que é difícil de lidar. Muitas práticas que sempre aconteceram continuaram acontecendo. A polícia não entende a lógica da ocupação do espaço público. É uma cultura ainda muito focada na questão da ordem pública, e não na proteção dos direitos das pessoas”, analisa.
A jovem secundarista goiana disse à reportagem sentir uma “paranoia” constante desde que soube que estava sendo vigiada. Com medo de sair à rua, entrou em depressão. “Tenho medo de que algo me aconteça pelo simples motivo de integrar um movimento social contra as vontades do Estado”, desabafa.
Outras jovens mulheres experimentaram um choque emocional quando descobriram que Baltazar Nunes, o Balta, um simpático frequentador dos protestos “Fora Temer”, era na verdade o capitão do Exército Willian Pina Botelho, que passou dois anos monitorando ativistas em São Paulo. Botelho usava o Tinder para seduzir jovens de esquerda e se infiltrar nos seus grupos. “Como mulher, eu me sinto abusada. Como assim é permitido que o Estado use como tática xavecar meninas? Com quantas meninas ele saiu pra conseguir informação? É um machismo institucionalizado, um atentado contra todas as mulheres”, ataca a hostess Clarissa Reche. “A gente cresce achando que pode confiar no Estado, na polícia, e vê que não. É um clima de descrença total. A gente perde o chão.”
Outra que foi abordada pelo militar foi a estudante Quelem Alves Caetano. “Fiquei com muito medo”, conta. Saber que um agente do governo tentou sair com ela a fez sentir-se “violada, insegura e com ódio em saber que esse tipo de pessoa se acha no direito de entrar na vida das pessoas para colocar algo ou tentar algo sem sua permissão”.
Leia mais: Botelho, o espião que ninguém amava

Impactos psicológicos
Cecília Coimbra tem 31 anos de experiência à frente do Tortura Nunca Mais, lidando com vítimas de violência do Estado, direta ou indireta. Para ela, não há dúvidas: o que os manifestantes passaram pode ser classificado como tortura. “Eram pessoas muito jovens, com pouca vivencia”, diz. “É obvio que esses meninos foram torturados. Eu não faço distinção entre tortura psicológica e tortura física. A tortura psicológica pode ser muito mais forte em termos de sofrimento e desagregação psíquica do que a tortura física”. Por causa disso, o Tortura Nunca Mais acolheu e ofereceu tratamento a alguns dos ativistas cariocas perseguidos nas manifestações de 2013. “Obviamente, quando você descaradamente é seguido, quando fazem campana na sua cara, é para produzir o medo. Isso é tortura também. É para produzir o imobilismo”, explica.
Uma das pessoas a serem tratadas foi Elisa Quadros, que ficou conhecida no Brasil inteiro como “Sininho”. A jovem de 31 anos estampou capas das principais revistas do país, acusada de ser a “grande” líder dos black blocs cariocas. Ela nega ter alguma vez sido adepta da tática. Ex-produtora de vídeos, hoje desempregada por causa da fama, ela participou ativamente de protestos em 2013 e 2014. Elisa também é ré no “processo dos 23”, acusada de quadrilha armada, ainda sem veredito final. Teve seu computador invadido, seu grupo infiltrado, foi seguida e filmada por policiais na sua rua e durante protestos (ela figura em um vídeo chamado “Blacks Identificados”, usado para circulação interna da PMERJ para monitoramento de alguns ativistas). Além de ter sido detida diversas vezes – incluindo duas prisões temporárias na véspera da abertura da Copa e da final –, ela passou seis meses escondida por causa de um pedido de prisão feito em julho de 2014. A ordem foi revogada pelo STJ em junho de 2015. Diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, tomou remédios psiquiátricos e faz acompanhamento psicológico há mais de três anos.
“A perseguição invisível te coloca num estado de paranoia, porque você não sabe o que é verdade, o que não é. Às vezes você pode estar exagerando, às vezes pode achar que você está exagerando e a coisa realmente está acontecendo. E aí você acostuma com essa perseguição. Você programa a tua prisão. Você organiza com quem vai ficar a tua chave, que vai ter que tirar o Facebook do ar, então dá a senha para fulano, dá a chave para sicrano, você organiza [pra onde vai] tua gata. E eu chorava muito, muito, muito”, relata Elisa.
“Você passa por um processo intenso de perseguição e vai tendo uns tiques, né? Que é a paranoia, que é a depressão. Aí você tem muita raiva, tem muita raiva das pessoas próximas de você. Porque na verdade você acaba jogando a raiva que você tem do Estado, da polícia, do que eles fizeram com você nas pessoas próximas. Então você agride, você grita. Aí tem a raiva de você mesmo. Eu já cheguei a me machucar, sabe? E eu falo abertamente a verdade porque isso não tem que ser vergonha para ninguém não.” Elisa, assim como muitas das pessoas ouvidas pela reportagem da Pública, deixou de ir a protestos por causa da perseguição.
Leia a entrevista na íntegra: “Meu nome não é Sininho”
Com a experiência de quem viveu a tortura da ditadura militar – ela foi presa de agosto a novembro de 1970 no DOI-CODI, quando era estudante de história e militante do Partido Comunista –, Cecília Coimbra acompanhou o impacto que a vigilância teve sobre os manifestantes, muitos dos quais estavam experimentando um nascimento da consciência política. “Apesar de eles terem massacrado muitos deles, teve alguns que mantiveram a rebeldia. A gente sabe que alguns dos meninos que passaram por ocupação se fragilizaram. E eu conversava com eles: ‘essas experiências que viveram estão marcadas a ferro e fogo no seu corpo’. Em termos até da potência daquele movimento. Nenhum poder é total.”
Leia também: Guerra à Primavera
Legislação e militarização
A infiltração de agentes só foi possível porque houve uma ampliação na legislação que forneceu a justificativa perfeita para isso. Na prática, o instrumento da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e a Lei 12.850/2013, que define organização criminosa e determina parâmetros para a investigação criminal, têm sido usadas nos tribunais como justificativa para infiltrações.
Foi a GLO que permitiu, aos olhos do Exército, que o capitão Willian Pina Botelho se infiltrasse entre jovens que queriam protestar contra o impeachment de Dilma no dia 4 de setembro de 2016, dia da passagem da tocha Olímpica pela avenida Paulista em São Paulo. A infiltração não foi autorizada por um juiz. Um grupo de 21 pessoas que estavam acompanhadas de Botelho foi preso diante do Centro Cultural Vergueiro.
Em resposta a um requerimento de informação apresentado pelo deputado federal Ivan Valente (PSOL), o comando do Exército afirmou que “não há que se falar em infiltração, uma vez que o grupo que foi preso, naquela data, não era uma organização criminosa, mas sim de livre adesão”, que “manifestava-se de maneira ostensiva no ambiente cibernético e nas ruas, podendo receber tantos e quantos fossem os interessados em dele participar”. O ofício do Exército assegura que o capitão Botelho estava legalmente autorizado a desenvolver “atividades de inteligência” em São Paulo segundo o decreto assinado pelo então vice-presidente Michel Temer em 8 de agosto, que determinava o emprego das Forças Armadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
No caso do PM Maurício Alves da Silva, a justificativa foi semelhante. Quando seu testemunho contra os ativistas acusados de quadrilha armada foi questionado na Justiça, a vara criminal alegou que “o que houve foi a coleta de informações, por parte do retromencionado policial, em lugares abertos ao público, vale dizer, durante atos em que a presença de qualquer pessoa era permitida, não tendo havido necessidade de o aludido policial se fazer passar por membro de qualquer um dos grupos criminosos investigados”. A desculpa era que infiltração mesmo só ocorre quando se trata de organização criminosa – aí sim existe a Lei 12.850/2013, que determina parâmetros para infiltração: tem de ser previamente autorizada por um juiz e deve haver indicativo de um crime cuja prova não pode ser produzida por outros meios. Além disso, o prazo máximo da infiltração é de seis meses.
Para o desembargador do TJ-RJ que julgou o pedido de anulação do depoimento de Maurício em segunda instância, como os ativistas são acusados por “associação criminosa” e não “organização criminosa”, não se pode falar em agente infiltrado. “O mesmo coletava informações sem qualquer vinculação a uma organização criminosa específica, não sendo a sua atuação de um agente infiltrado, e sim de um agente da inteligência cuja atividade é a defesa do próprio Estado”, escreveu ele.
Ao analisar a legislação de vigilância e privacidade no Brasil, a advogada Joana Varon, diretora da organização Coding Rights, concluiu que há motivos para preocupação. Ela destaca, além das já citadas, a Lei Antiterror, e também a resolução 596/12 da Anatel, que obriga as empresas de telefonia a permitir acesso a aplicativos, sistemas, recursos e facilidades tecnológicas utilizados por elas “para coleta, tratamento e apresentação de dados, informações e outros aspectos”. “Todo esse cenário, aliado a grandes investimentos e importações de equipamentos e treinamentos, instrumentalizou o governo para práticas de vigilância bastante invasivas e em detrimento da privacidade dos cidadãos”, diz.
O professor Marcelo Lopes de Souza, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), avalia que o endurecimento penal se inscreve num processo mais amplo, de militarização da questão urbana no Brasil. Isso significa que as cidades estão se tornando palco cada vez mais de ações militarizadas, controladas e vigiadas. Aparatos típicos de zonas de combate passam a ser utilizados nas cidades – o uso das Forças Armadas pela GLO na Olimpíada e, agora, na gestão da crise nos presídios, são dois exemplos, “com o envolvimento das Forças Armadas em assuntos de natureza policial – e, de um ângulo crítico, são, em última análise, assuntos de natureza sobretudo social”, explica o professor. Autor dos livros Fobópole (editora Bertrand Brasil) e Dos espaços de controle aos territórios dissidentes (editora Consequência), ele diz que “os megaeventos não são o ingrediente principal: são um ingrediente a mais, e em parte também um pretexto conveniente”.
Já Stephen Graham, professor de Arquitetura e Planejamento na Universidade de Newcastle, Inglaterra, e autor do livro Cidades sitiadas: o novo urbanismo militar (editora Boitempo), chama atenção para o papel dos megaeventos na tendência mundial de militarização das cidades. “São fundamentais! São eles as ‘vitrines’ para os equipamentos de segurança mais modernos; dão água na boca do complexo-industrial-de-segurança-e-vigilância por causa dos enormes orçamentos que estão em jogo; são eles o local e a hora em que muitas leis limitando a vigilância e a experimentação de novas técnicas são removidas; e são os espaços de experimentação para novas técnicas, que podem ser difundidas em outros lugares.”
Atualização: A reportagem afirmava erroneamente que o decreto de LGO foi assinado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Foi Michel Temer quem o assinou, em 8/8/2016.
O capitão Botelho usava o Tinder, e não o Instagram, como afirmado anteriormente.