Faz pouco mais de dois meses que ela se foi, um dia antes do seu aniversário. Maria – vamos chamá-la assim – completaria 20 anos em 2 de março. Ninguém diria que não era uma indiazinha como tantas que colorem as ruas de São Gabriel da Cachoeira, município no noroeste do Amazonas, às margens do rio Negro. Era baixinha, os cabelos negros sobre os ombros, as roupas justas, chinelo de dedos. Mas Maria estava ali só de passagem. No seu enterro os parentes contaram que tinham vindo rio abaixo para passar o período de férias escolares, quando centenas de indígenas de diversas etnias deixam suas aldeias e enchem a sede do município para resolver pendências burocráticas. Ali na cidade, ela arrumou namorado, um militar, e passava os dias com ele, quando não estava entre amigos. Mas nos últimos dias Maria andava triste: o casal havia rompido o namoro. Estava estranha, nervosa. Os parentes contaram que chegou a ter alucinações.
Os pais tinham achado bom o fim do namoro. Ninguém chegou a conhecer de perto o tal soldado. Nunca conseguiram ver o seu rosto porque, segundo contaram, quando ele vinha ao bairro do Dabaru, um dos mais pobres do município, onde a família morava numa espécie de vilazinha com casas coladas umas nas outras, ele sempre se escondia nas sombras formadas pela parca iluminação. Tinha o rosto coberto pelas trevas da noite. Era branco, era preto. Era gente?
Na madrugada de sábado para domingo, dia 1o de março, depois de ter passado a tarde e o começo da noite com o irmão mais velho e amigos bebendo na praia do rio, Maria começou a se transformar de vez. Estava agressiva. Os olhos já não eram os dela, contou o irmão, reviravam e mudavam de cor enquanto ela gritava que os pais não gostavam dela, que era ele o filho predileto. O irmão ainda arrastou Maria de volta, mas, quando chegaram em casa, os pais não conseguiam enxergá-la. No lugar dela viam apenas algo escuro, uma sombra. Um ser da escuridão. O pai não pôde nem levantar da rede no pequeno quarto que dividia com os filhos. Ficou chorando, atônito. Maria entrou no quarto ao lado, bateu a porta. Não conseguiram abri-la, embora não estivesse trancada. Por uma fresta, viram quando ela amarrou uma corda e se enforcou. No momento seguinte a porta finalmente abriu. Ela já estava morta.
Maria é a vítima mais recente de uma tragédia assombrosa que se repete com enredo semelhante há pelo menos dez anos em São Gabriel da Cachoeira e que foi traduzida em números pelo Mapa da Violência 2014, da Secretaria-Geral da Presidência da República. De acordo com o relatório baseado em dados do Sistema de Informação da Mortalidade do Ministério da Saúde, São Gabriel é o recordista nas estatísticas de suicídio por habitante dos municípios brasileiros. Em 2012 foram 51,2 suicídios por 100 mil habitantes – dez vezes mais que a média nacional. Isso corresponde a 20 pessoas que se mataram, mais ainda do que no ano anterior, quando foram 16 suicídios.
São Gabriel é também o município mais indígena do Brasil. As 23 etnias que há pelo menos 3 mil anos ocupam as margens do rio Negro e de seus afluentes correspondem a cerca de 76% da população. Hoje os cerca de 42 mil habitantes se dividem entre a área urbana – ocupada a partir da margem do rio desde a fundação do forte São Gabriel pelos portugueses, em 1761 – e as centenas de comunidades espalhadas pelo interior da floresta, algumas a dois ou três dias de barco dentro do maior mosaico de terras indígenas do país, com 100 mil km2 de área. Um território maior do que Portugal, onde vivem os Baniwa, Kuripako, Dow, Hupda, Nadöb, Yuhupde, Baré, Warekena, Arapaso, Bará, Barasana, Desana, Karapanã, Kubeo, Makuna, Mirity-tapuya, Pira-tapuya, Siriano, Tariana, Tukano, Tuyuca, Wanana e Yanomami.
De um total de 73 mortes ocorridas entre 2008 e 2012, apenas cinco não foram de indígenas, segundo o Mapa da Violência 2014. Entre os indígenas, 75% eram jovens, como Maria. E muitos dos familiares e amigos contam que se suicidaram depois de terem sido assombrados por seres da escuridão, por parentes mortos, ou mesmo pelo próprio diabo, os quais, chamando-os durante meses a fio, afinal os arrastaram para a forca.
Mas quem chega a São Gabriel e pergunta nas ruas, nos bares, nas igrejas vai ouvir que os suicídios são um problema do passado. Uma crise, um surto, pronto, passou, não se fala mais nisso. Faz tempo que o assunto não atrai jornalistas forasteiros rio acima, com seus gravadores e suas perguntas. É no passar vagaroso dos dias que os relatos começam a aparecer. E são muitos, em todo canto.
Como o de seu Zeferino, que pode ser encontrado sentado no tronco de uma árvore no quintal de terra ocupado por duas casas – a dele e a dos filhos – no distante bairro de Tiago Montalvo. De olhos pequenos marcados pela catarata, as costas encurvadas, Zeferino Teles Lima não gosta de falar, mas a lembrança do filho Tiago não o deixa em paz. Misturando a língua Tukano com o pouco português que sabe, o índio Tariano conta baixinho que “pensa sempre… ele trabalhando na roça dele, trabalhando na casa dele, onde tem deitado… tenho pensado muito… tô pensando ainda, né? Bravo não fica muito não… fica muito triste”. A imagem do filho o persegue dia e noite, chamando. Para se livrar de tanto pensamento, Zeferino procurou as curas tradicionais do seu povo. “Fizeram benzimento por minha vontade. Se assim não tinha benzido, já tinha morto já. Atrás dele né?”, diz. Depois, buscou um padre. “Porque não dá pra mim tristeza e tá dando assim. Aí que padre tirou benzendo pra mim da cabeça. Aí passou um pouquinho agora, tá aos poucos melhorando.”
Segundo a família, Tiago Lima morreu no dia 10 de abril de 2014 na comunidade Nova Esperança, no alto rio Uaupés, interior do município. Estava bêbado. A comunidade se preparava para a festa de Domingo de Ramos e Tiago não teve dificuldade em encontrar um comerciante disposto a vender-lhe cachaça – a venda de bebida alcoólica é proibida em terras indígenas. Comprou três “carotezinhos”, garrafinhas de plástico, de 200 ml. Ninguém viu quando Tiago amarrou a corda dentro da casa, depois de um desentendimento com o irmão, com quem estava morando. O pai resume: “Ele se laçou”. Na sua língua não existe a palavra “suicídio”.

Não foi o primeiro da família a adoecer. Dois primos de Tiago tentaram a morte repetidas vezes nos últimos anos. Do outro lado da rua de terra, a sobrinha de Zeferino, Almerinda Ramos de Lima, conta essa história sem alterar a voz, enquanto organiza o almoço de família na casa do pai, cercada pela filha, o neto, alguns irmãos, as sobrinhas, a tirar suco de açaí. Almerinda foi a primeira mulher a assumir a presidência da Foirn, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que reúne diversos povos da região. “Minha mãe diz assim, um dia vão acabar se enforcando”, suspira. O irmão Melquior, de 38 anos, tentou se enforcar duas vezes. A primeira foi em 2010, por causa de uma briga com a esposa. A corda arrebentou. Um ano depois, ele voltou a tentar o suicídio, depois de o pai ter lhe chamado a atenção por estar bêbado. “Papai começou a ralhar ele, e ele falou: ‘Ah, já que eu que tô errado, já que eu que tô fazendo essas coisas erradas, então eu prefiro me matar, prefiro morrer’. Então isso que ele fez. Sorte dele que o galho quebrou.” .O outro irmão, Ivo, de 35 anos, também foi atrás da corda, depois de uma briga conjugal. “Acho que o diabo não quis levar eles ainda, por isso que não morreram”, diz Almerinda.
Sem registro oficial
A aflição da família de Almerinda não está registrada em lugar nenhum. O único levantamento que existe sobre tentativas de suicídio na região é feito pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro (DSEI/RN), órgão do governo federal responsável por cuidar da saúde dos índios aldeados, subordinado ao Ministério da Saúde. O distrito não acompanha nem registra casos que aconteceram na área urbana. E entre os índios aldeados os números levantados são irrisórios. Segundo os dados enviados pelo DSEI à Pública, houve apenas uma tentativa de suicídio relatada em 2014. No ano anterior, foram registradas sete tentativas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para cada suicídio efetivado há pelo menos dez tentativas.
“As pessoas estão alarmadas, não sabem o que fazer, e isso não se vê nos relatórios. Tem muitas tentativas de suicídio, mas isso não aparece nos números oficiais”, diz Aloísio Cabalzar, antropólogo do Instituto Socioambiental (ISA) que há 25 anos trabalha nas comunidades Tukano, Tuiuka e Dessana do rio Tiquié, um afluente do rio Negro no extremo noroeste do Amazonas. Nesses anos, pelo menos dez conhecidos dele se suicidaram, calcula: “Vivi muito isso. O suicídio sempre aconteceu, mas como algo atípico. Agora a coisa ficou muito mais presente, muito mais frequente. As pessoas estão com medo, as famílias têm medo de que os seus filhos se matem. Porque foram muitos jovens, nessa faixa dos 20 anos.”
A única certeza entre as famílias do alto Tiquié é que os enforcamentos começaram na cidade de São Gabriel, e não nas aldeias. “Tem um pouco essa ideia de que a doença, no geral, pela própria história de contato com os brancos, vem sempre subindo pelo rio no sentido da foz, no Amazonas. O suicídio, também, é uma doença contagiosa que está chegando nas comunidades vinda de São Gabriel”, diz o antropólogo.
Os suicídios rio-negrinos se inserem em um alarmante contexto nacional: em 2010, os indígenas representavam 0,4% da população brasileira, mas respondiam por 1% dos suicídios. O caso mais notório é o dos Guarani-Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Segundo o Conselho Missionário Indigenista (CIMI), entre 2000 e 2013 houve 684 mortes por suicídio entre eles – 73 casos apenas em 2013. O Mapa da Violência registra no Mato Grosso do Sul 19,9% dos suicídios indígenas – sete vezes mais do que era de esperar em uma população correspondente a 2,9% da total. Uma “verdadeira situação pandêmica de suicídio entre os jovens indígenas”, destaca o relatório.
Diferentemente dos Guarani-Kaiowa no Mato Grosso do Sul, porém, não há grandes conflitos de terra no noroeste amazônico, embora muitas áreas ainda estejam em processo de demarcação. A cultura indígena prevalece no município de São Gabriel, graças à organização da Foirn. Essa é a única cidade brasileira que tem quatro línguas oficiais: além do português, o Tukano, Baniwa e o Nhengatu, ou a língua-geral imposta pelos jesuítas no século 17 e até hoje predominante entre certas etnias. Caso único no país, entre 2008 e 2012 chegou a ter prefeito e vice-prefeito indígenas – o titular Tariana e o vice Baniwa. Grande parte das famílias das comunidades passa temporadas na casa de parentes na cidade, uma “extensão” das famílias aldeadas, mantendo quase sempre uma “roça” em algum terreno mais afastado, onde as mulheres seguem plantando mandioca, pimenta, milho e abacaxi.
O suicídio é uma interrupção trágica e intempestiva de uma vida humana.
Para investiga-lo é preciso, primeiro, saber que ele é inexplicável. Um enigma jamais resolvido em nenhuma civilização, relaciona-se a como a sociedade vê a própria existência e a própria morte. O suicídio foi condenado, perseguido, debatido ardentemente ao longo da história. Na Roma antiga enquanto alguns filósofos louvavam o heroísmo do ato de matar-se, ele era proibido aos escravos e soldados, pois era considerado um crime contra a propriedade; apenas homens livres podiam fazê-lo. A partir do século 3, o direito romano prevê punições que vão além da morte; até mesmo quem casar com a viúva do suicida será punido. Na Europa, na Idade Média, a morte voluntária também merecia castigos ao morto: o cadáver era arrastado pelas ruas, mutilado e exibido nu em praça pública; os bens do falecido eram confiscados. Shakespeare cunhou uma das frases mais célebres da literatura ocidental, “ser ou não ser, eis a questão” em 1600, quarenta e dois anos antes da palavra “suicídio” ser usada pela primeira vez, também na Inglaterra. Antes, dizia-se auto-assassinato, auto-homicídio, auto-massacre ou autodestruição.
Ao longo dos séculos o suicídio sempre causou mal-estar; é um fato inaceitável, uma morte malvista. E não é diferente com os indígenas. Raramente se fala sobre os mortos ou se contam com detalhes as circunstâncias de um suicídio. É por isso que Valéria Magalhães, psicóloga do DSEI/RN, se impressionou tanto com o relato da família de Maria, transcrito no começo desta reportagem. “É muito difícil eles falarem como aconteceu, e nesse dia, não sei se é porque era muito recente, no dia do enterro, a família descreveu que eles viram que ela tinha um ser da escuridão próximo dela. Aí esse ser incorporou e fez ela se matar. Não foi ela que se matou, foi esse ser da escuridão, que já vinha acompanhando ela há um tempo. Eles contando na hora pra mim, era com tanta certeza que não deixa dúvida pra eles. Aquela morte ia acontecer. Eles não tinham como evitar”, conta a psicóloga, que agora faz voluntariamente o acompanhamento da família. “Não adianta eu falar pra eles: ‘Isso é uma autossugestão, você não está vendo isso’. É a verdade deles que importa, não a minha. E o que eles estão vivendo é isso.”
São Gabriel e suas mortes
A primeira coisa que é preciso saber ao chegar a São Gabriel da Cachoeira é que, debaixo do morro que ladeia a praia de areia branca e águas escuras, mora a Cobra Grande, pronta a engolir o visitante desavisado, seja índio ou branco, que se aventura sem cuidado nas fortes corredeiras. Ali onde está a igreja católica, azul e branca, e o imponente prédio da Diocese a paisagem é tingida pelo som furioso das águas, ininterrupto. À noite, quando o barulho dos carros e dos bares se aquieta, parece que as cachoeiras formadas pelas pedras do rio passam por cima da cidade e arrastam todo mundo para longe, como nas tantas histórias que se conta sobre jovens, meninos e meninas abraçados pela cobra do rio.
Nos anos de 2005 e 2006, parecia que o negrume das águas tinha envolvido de vez São Gabriel. Até então os casos de suicídio na região eram esparsos, conforme conta o antropólogo Aloísio Cabalzar, da ONG Instituto Socioambiental (ISA). Ele se lembra bem da primeira morte que ficou famosa, em 2001. O rapaz, de 31 anos, era seu conhecido. Um indígena Desana da comunidade de São Luiz, à beira do rio Tiquié, que adentra a Colômbia. Matou-se tomando timbó, um veneno usado na região para caçar ou pescar, proveniente de um cipó trepador. “Foi um caso que chocou bastante, todo mundo ficou bem surpreso.” Apenas um sinal do que estava por vir: “Em 2005, a coisa mudou”.
Naquele ano, o bairro do Dabaru era relativamente recente e fervilhava com a vinda maciça dos índios das aldeias, principalmente em busca de educação secundária para os filhos; as comunidades possuem só escolas de ensino básico. Nas ruas de terra, sem ligação de água ou esgoto, a iluminação era precária e não havia nenhum transporte público. Andava-se muito a pé, as mulheres carregando bebês assentados nos quadris, e apenas os mais bem de vida podiam ter uma bicicleta surrada. Ali ficava também o único hospital da cidade, o Hospital de Guarnição, administrado por militares. Na véspera do dia das crianças, uma menina foi levada às pressas, durante a noite, para o hospital. Acabara de se enforcar. Tinha apenas 13 anos.
Sua tia, Elizabeth Silva, é uma indígena Baré com uma tristeza nos olhos que se disfarça na altivez da postura. A perplexidade se revela aos poucos, à medida que ela relembra a história ocorrida dez anos antes. “Quando aconteceu, isso deixou a gente sem pé, sem cabeça. Por quê? O que faltava pra ela? O que eu fiz? O que eu não fiz?”, diz ela. A sobrinha Laísa – o nome é fictício – tivera uma infância conturbada. Quando pequena, a mãe teve de fugir do município porque o novo namorado estava sendo procurado pela polícia. Depois de um período de mudanças constantes de residência em Manaus e denúncias de negligência e maus-tratos sofridos por ela, as tias a adotaram e voltaram a São Gabriel. Desde então, “tinha três mães”, revezava-se entre a casa das tias e levava uma vida normal. Assistia a novela, gostava muito de vôlei e, com as amigas da Escola Estadual Irmã Inês Penha, participava da banda marcial. “Era uma menina feliz, alegre com todo mundo, gostava de brincar, gostava de festa, e ela tinha tudo pra se ocupar. Tinha muitas colegas, não era isolada.” Elizabeth lembra como a menina era boa de cozinha e havia prometido ajudá-la a preparar a festa do Dia das Crianças. No dia anterior, foi encontrada pela prima de 16 anos, amarrada por uma corda ao teto da sua casa. “Ela sempre sonhava ser alguma coisa na vida”, diz a tia, que, depois da morte, se mudou de bairro com as irmãs “tentando realmente, esquecer”. A última frase que ouviu da sobrinha ainda ecoa na mente de Elizabeth e a faz chorar. “Eu vou ajudar a senhora, a gente vai fazer um bolo, a gente vai fazer um doce e encher a barriga dessas crianças do Dabaru.”
A prima que a encontrou ficou em estado de choque. Eram muito próximas. Iam juntas para a escola, almoçavam juntas, dividiam confidências. Marta (nome fictício) ficou de cama por uma semana depois do enterro; quando falava, era como se conversasse com Laísa. “A gente teve que amarrar ela. Ela tinha muita força, a gente não aguentava. Ela dizia que [Laísa] tava levando ela. Que chamava ela”, relata Elizabeth, que cuidou da garota durante dois meses em sua casa. “Ela mudava a voz, e era a voz da finada. Dizia: ‘Me perdoe, tia, eu não queria fazer isso não, achava que ninguém me amava tanto assim não’. A gente procurou igreja. O bispo. Ele ajudou muito a gente nas orações… Até o benzimento”, explica Elizabeth, baixando os olhos. “A gente não sabia mais o que fazer. Todo mundo já tava ficando doente, essa minha irmã não queria comer, só vivia chorando, pra ela acabou tudo, ela não queria mais saber de nada, queria morrer junto com ela…”
Entre um ataque e outro, a prima pôs a culpa em um professor da escola Irmã Inês Penha, onde estudavam. Disse que o professor levava alunos para o cemitério à noite e os fazia ler textos em latim. Haveria um pacto suicida entre esses alunos. Às vezes, Marta dizia que o estava vendo na casa de Elizabeth, diante dos parentes. “Olha aqui, tia, ele tá aqui, você não tá vendo o sapato dele? Ele tá bem aqui perto de mim”, dizia a menina a Elizabeth. “A gente não via! Mas ela tava enxergando”, conta. Nessas visões, o professor aparecia sempre vestido com uma capa preta.
O choque gerado pela morte de Laísa ultrapassou o seio familiar e arrastou consigo a escola toda e, com o tempo, a cidade. Foi um fim de ano negro. Outros alunos, vizinhos e conhecidos da menina começaram a ter visões, como revela um relato aflito da tenente do Exército Graciete Carvalho, então enfermeira no Hospital de Guarnição, escrito para a Fundação Estadual dos Povos Indígenas (Fepi) no dia 20 de dezembro de 2005. O texto foi reproduzido em uma detalhada investigação feita pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2011.
“No dia 11 de outubro (terça-feira) chegou no hospital uma menina de 13 anos que foi encontrada por sua prima de 16 anos, enforcada. (…) Todos achavam que estava relacionado com a trajetória de vida dela marcada por maus-tratos e até suspeita de abuso sexual quando morava com a mãe em Manaus, mas essa ideia foi tomando outro rumo tendo em vista que a sua prima depois do seu enterro entrou em estado de choque e ficou com um comportamento estranho. (…) No dia 24 de outubro (segunda-feira) chegou outra menor de 12 anos (M.P.R.) também vítima de enforcamento. No dia 31 de outubro (segunda-feira) chegou ao Hospital uma jovem de 17 anos (B) em surto psicótico, segundo o Major Cid, nosso psiquiatra. Ela estava completamente transtornada, tinha momentos em que ela prendia a respiração e era preciso sacudi-la para sair daquele estado e pudesse ficar normal. Durante a alucinação ela dizia que a [Laísa] queria levar ela e outros jovens.” No dia 7 de novembro, uma segunda-feira, outro jovem de 14 anos, vizinho de Laísa no Dabaru, se enforcou. Na semana seguinte, relata Graciete, “ocorreram algumas tentativas e inúmeras manifestações, através de bilhetes e cartas, de desejo de também realizar o enforcamento. No dia 10 de novembro, atendemos uma menor de 12 anos que tentou enforcamento. Ela referiu que às vezes escutava vozes que lhe perturbavam muito, não conseguia dormir e vinha uma grande vontade de pegar uma corda”. No dia 11 de novembro, outra menina deu entrada no hospital porque, segundo a família, estava muito triste e transtornada, dizendo que “os jovens que morreram queriam levá-la”. No dia seguinte, outra jovem, de 17 anos, foi levada para lá pelo Conselho Tutelar, depois de resgatada pela irmã com uma corda ao redor do pescoço. Também morava na vizinhança de Laísa.
Uma de suas tias encontrou uma lista com o nome de colegas de Laísa em uma associação de artesãos onde a menina se reunia com as amigas. A lista foi tida como um prenúncio de que todas iriam morrer. As cartas de despedida se multiplicaram na escola Inês Penha. Muitas apontavam falta de carinho e atenção em casa, outras listavam inimizades escolares. Outras eram mais serenas, como a dessa menina de 12 anos: “Pai, mãe, tios, tias e irmãos vocês foram muito legais comigo. Mãe peço desculpas por palavras que um dia eu falei. Pai muito obrigada por tudo que me ensinou, irmãos eu sei que vocês são muito pequenos para entender e F. eu sei que você no fundo do seu coração gostava muito de mim. Eu amo muito vocês beijos e abraços. Professores e Professor muito obrigada por tudo que me ensinaram eu sei que as vezes bagunçava muito eu escrever algumas letras erradas mais é por que eu estou nervosa. Beijos e Abraços para todos”.
O diretor da escola pediu o adiantamento do fim do ano letivo e a Inês Penha fechou mais cedo. No hospital, o número de emergências crescia. “No dia 19 de novembro (sábado) somos chamados, eu e o Mj Cid, para atender outra jovem de 16 anos que estava completamente atordoada. Quando cheguei na emergência do Hospital vi o desespero dos familiares segurando a jovem (I.M.) porque ela corria de um lado para o outro e colocava as mãos no ouvido, tremia e com um olhar assustado dizia que estava vendo um homem de preto e os três menores que se enforcaram e que diziam que queriam levá-la. De acordo com o amigo que a socorreu ela estava sozinha em casa, gritando num canto da casa com as mãos na cabeça dizendo que não queria ir. Segundo ele, ela falou que procurou corda e não encontrou na casa e que o homem de preto dizia que estava esperando um momento em que ela estivesse triste e sozinha para buscá-la. Na abordagem com a mãe perguntei se havia acontecido alguma coisa em casa e ela disse apenas que havia ‘ralhado muito’ com a IM. O Major Cid viu a paciente e teve que prescrever anti-psicótico porque estava em surto. […] Ela veio três finais de semana seguidos no Hospital. Mas o comportamento já estava diferente. Estamos acompanhando ela desde o dia 21 de novembro. A mãe, já que o pai estava em Manaus fazendo tratamento de saúde, procurou um benzedor que terminou o trabalho está com uma semana. De fato ela está bem melhor até porque o pai chegou de Manaus, mas às vezes se refere a dor de cabeça e uma certa tristeza.” A partir dali, prossegue a tenente, novos casos chegavam todo fim de semana – e já não se restringiam a alunos da Inês Penha. Dezesseis adolescentes tentaram se matar naquele fim de ano, segundo o levantamento feito pelo MPF.
Exorcismo “coerente”

Muitos deles ficaram em observação da administração militar do hospital, que fazia visitas periódicas aos casos críticos. O jovial pastor Marcos Ribeiro, um carioca conhecido da molecada pela postura nada ortodoxa, foi chamado pelo hospital e aceitou o desafio de “fazer alguma coisa com esses jovens”:um coral. A apresentação veio depois de seis meses de ensaios no Hospital de Guarnição. Foi um sucesso. “A gente mobilizou a cidade, gente pra caramba, a igreja lotou. Veio gente do hospital, foram convidadas as autoridades”, conta o pastor. No fim do evento, diz, uma menina de 13 anos “se manifestou” de uma forma que o fez lembrar os relatos insistentes das garotas sobre um homem de capa preta: “Elas ouviam vozes”. Naquele momento, a menina se agachou contra a parede e, conta o pastor, “corporalmente você via um profundo medo, a postura de medo, de meter a mão no ouvido, falando ‘corda, corda, vai pra corda, você não vale nada… Se mata, ninguém gosta de você’, aquela coisa todinha. Foi uma coisa assim fantástica”. Quando o pastor se aproximou dela, foi cercado por um grupo de militares que estava ali a convite da administração do hospital. Queriam manter a ordem. “Eles me cercaram e falaram assim: ‘Sem exorcismo aqui’”. Segundo ele, sua resposta foi: “Vocês estão me confundindo com outra pessoa. Façam o seu trabalho e deixem eu fazer o meu”.
O que se seguiu, nas palavras dele, foi um “exorcismo coerente”. “O que houve foi um diálogo. E dentro desse diálogo houve ali a manifestação do poder, da graça de Deus. E não o sensacionalismo”, diz. Ele disse, por exemplo, como ela tinha sido importante para convencer os colegas a cantar: “Eles só estão aqui porque os medos que eles tinham você colocou tudo pra trás. E agora é você que tá com medo? Levante e olhe pra esse povo. Cadê o homem de capa preta agora?”. Ela se acalmou.
Pouco depois, em meados de 2006, o pastor Marcos ajudou outro adolescente, dessa vez salvando-o da morte. Ele estava comemorando seu aniversário na casa de um amigo quando o vizinho, um jovem de 17 anos, pediu uma corda para amarrar a rede. Em seguida, entrou em casa e aumentou o som. Foi isso que os impeliu a entrar na casa. “Ele tava lá no toco mesmo, bem pendurado mesmo, e já tremendo.” Cortaram a corda a tempo. Já no hospital, o rapaz disse que havia brigado com o pai, que tinha predileção pelo irmão mais novo, embora ele cuidasse da casa com afinco. Embebedou-se antes de “entrar na corda”. Quando voltou a si, perguntou ao pastor por que ele tinha interrompido a sua morte. “Porque tu não tem o direito de tirar a tua vida”, ouviu.
Os surtos se repetiram durante todo o ano de 2006. Não eram mais apenas os alunos do Inês Penha, mas jovens de outras escolas e outros, que não conheciam as vítimas da escola. Segundo a investigação do MPF, realizada pelo analista pericial em antropologia Walter Coutinho Jr., nove jovens morreram e 26 tentaram se matar entre 2005 e 2006. Outros 21 adolescentes e jovens chegaram tristes, “atordoados” ou com “perturbações auditivas” ao Hospital de Guarnição. O relatório chama atenção para a tendência dos suicídios “em cadeia” ou “por contágio”, dentro de um mesmo grupo familiar ou de amigos. Um fenômeno bem definido na literatura psicanalítica, destaca o documento: “O desdobramento da ocorrência de um suicídio em novas tentativas e/ou casos consumados resulta na constituição de modelos de comportamentos autodestrutivos no interior de famílias ou entre pares. A reiterada ocorrência de suicídios acaba suscitando certa aceitação e familiaridade com a ideia, que se torna uma espécie de resposta psicológica e culturalmente modelada para alguns dilemas, inclusive com a realização de tentativas por indivíduos muito jovens de forma experimental”.

Dedos apontados para o professor
A figura do homem de capa preta tornou-se pesadelo de todos na cidade, em especial daqueles que tinham filhos adolescentes. O representante da Fundação Nacional do Índio (Funai) e ex-vice-prefeito, André Baniwa, era, na época, diretor da Foirn. Chamou duas das meninas que haviam tentado se matar para ouvi-las na sede da organização. “Elas falavam que viam alguém na visão delas, que você não enxergava junto com elas, porque essa visão de homem preto… Não é que ele é preto de cor, mas de capa preta, mas proibia ela contar o que estava acontecendo com elas. E essa morte se apresentava então, o suicídio, de amarrar no pescoço, era de tanta insistência no ouvido delas desse homem.”
Nem a lei, nem a cruz arrefeceram os ânimos naqueles dias. A polícia, a Funai, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o governo municipal criaram comissões para investigar o caso e dar apoio aos adolescentes e suas famílias. Algumas organizações que trabalhavam com os jovens, como o Conselho Tutelar e o Projeto Sentinela, ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social, organizaram “passeatas pela vida”, enquanto a polícia civil investigava as mortes. Todos queriam um culpado. Foi assim que as histórias sobre o professor ganharam corpo e respaldo.
O que se dizia era que um professor da escola Inês Penha e um ex-prefeito haviam feito um pacto com o diabo. O prefeito havia entregado a alma de seu filho, um jovem que morreu em 2004 em um racha de moto, causando grande comoção. O professor teria preferido entregar a alma de seus alunos. Era para isso que os levava ao cemitério da cidade. Seguindo as “pistas”, a polícia colocou câmeras de segurança em cemitérios e fez campanas nos locais suspeitos, sem sucesso. Um delegado de Manaus foi especialmente designado para o caso, que os policiais buscavam enquadrar no artigo 122 do Código Penal. Entre os crimes contra a pessoa de que trata o artigo está “induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça”, sendo a pena duplicada “se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência”. Ouviu cerca de 30 testemunhas – e a maioria delas apontou a culpa do professor, bradou ele à imprensa nacional, que passou a cobrir a história: “Tomamos depoimentos de muitas pessoas que tinham ligações com as vítimas e elas indicaram esse professor como a pessoa que induzia os jovens a se suicidarem”, afirmou o delegado Marco Engel ao jornal A Crítica. “Só que, com a notícia de que ele seria indiciado, o professor sumiu da cidade”, disse então.
De fato, o professor acabou saindo da cidade; sua vida ali tinha se tornado insuportável. Era ele, afinal, o “capa preta”, responsável por aquela desgraça toda. Pouco depois de ter se mudado para Manaus com a família, onde continua até hoje, trabalhando para a Secretaria Estadual de Educação, sua casa em São Gabriel foi invadida por uma diligência das polícias Civil, Militar e Federal, cumprindo um mandato de busca e apreensão. Para os habitantes da cidade era essa a confirmação da sua culpa. Pouco depois, o delegado de Manaus pediu sua prisão preventiva e seu indiciamento. Ambos os pedidos foram negados pela Justiça. A investigação morreu ali. No ano seguinte, o assunto sumiu da imprensa. Hoje é difícil encontrar qualquer vestígio da investigação encerrada há nove anos. O inquérito arquivado não consta nos arquivos da Polícia Civil local, pois só os dos últimos cinco anos são guardados, de acordo com o investigador Alexandre Galvão Neto. Ele também não foi localizado pelo arquivista do tribunal.
Mas, no imaginário da insone São Gabriel, o professor é ainda o grande responsável pelos suicídios das adolescentes. A Pública conseguiu localizá-lo, depois de muito insistir com parentes, que reiteraram como a experiência foi devastadora. O professor enviou um e-mail negando veementemente todas as acusações, mas pediu que não fosse publicado.
Os suicídios continuaram. E se espalharam com furor tanto para a cidade de Santa Isabel do Rio Negro, 250 quilômetros ao leste em direção a Manaus, quanto pelas comunidades do interior do Amazonas. Conforme a investigação do MPF dentro dos limites de São Gabriel, em 2007, houve nove suicídios no interior, três no rio Uaupés, dois no rio Papuri e um no rio Umari. Em 2008, 11 suicídios no interior, sete deles no rio Tiquié, e outros no rio Uaupés, rio Içana, no rio Negro e na terra Yanomami. Em 2009, sete suicídios, dois no rio Uaupés, um no Rio Papuri, e dois na cidade, de jovens provenientes da comunidade de Tapira Ponte, no rio Negro. Em 2010, 11 suicídios, seis no Uaupés, três no Tiquié, um no igarapé Japu e um no rio Negro, segundo o MPF. Mas os dados contrastam com o registro da Secretaria de Saúde municipal, que aponta apenas cinco, no total, no município de São Gabriel naquele ano. Também há divergência nos dados de 2011: 16 suicídios segundo o Mapa da Violência, apenas um de acordo com dados enviados a pedido da Pública pelo coordenador de Vigilância Epidemiológica Municipal de São Gabriel da Cachoeira, que registrou também um suicídio em 2012, nenhum em 2013, três em 2014 e um neste ano – que não é o de Maria. (Depois da publicação desta reportagem a Prefeitura enviou novos dados que contradizem os anteriores e também contrastam totalmente com os dados do Mapa da Viêlencia. Veja a tabela aqui.)
Segundo os indígenas, porém, a partir de 2009, o drama também atingiu Iauaretê, a “cidade dos índios”, um aglomerado urbano na fronteira com a Colômbia, distrito de São Gabriel, no alto rio Uaupés. Almerinda Ramos de Lima, a já citada sobrinha de Zeferino, era então a líder da organização de mulheres local. “Era todo mundo, jovens entre 15 ou 14 pra lá, até os adultos, tanto homens e mulheres. Senhores e senhoras. A gente não entende por que, não sei se é por causa da bebedeira, sei lá, se enforcavam sempre. Toda vez, toda vez era assim. No dia da festa, a gente encontrava pessoas assim, enforcadas…”, conta. A própria Foirn, diz ela, fez muito pouco. Não houve mobilização, seminário, discussão do problema, lembra: “E assim ia. Só que assim o como que a pessoa tava se sentindo, a gente nunca chegou a descobrir. Por que a pessoa chegou a fazer isso”.
Em Santa Isabel, uma espécie de irmã menor de São Gabriel, mais interiorana, os suicídios explodiram entre 2008 e 2009. Foram 13 mortes nesses dois anos, em uma população de 18 mil habitantes. Nessa época, mais de 60% da população, segundo o censo de 2010, continuava a morar entre os inúmeros igarapés e rios interior adentro. Como em São Gabriel, culpava-se um pacto mortal, cartas de despedida que rodavam pela cidade, brigas familiares e alcoolismo. Os jovens escutavam vozes. Em 15 dias, no mês de setembro de 2008, houve três suicídios e quatro tentativas foram feitas, segundo a paróquia local. “Era droga, maconha, cocaína, não sei o que é”, opina hoje a vereadora Sandra Gomes Castro, cuja história é a marca do que aconteceu naquela época sem fim.
O primeiro a partir foi seu filho Ibrahim, garoto exemplar, estudioso, e uma das poucas vítimas cuja existência está registrada na internet. Está ali: aprovado na Universidade Federal do Amazonas (Pedagogia, vespertino) e na Universidade do Estado do Amazonas (Direito, noturno). “Ele vivia muito só pra estudar, era um menino que não bebia, não fumava, não gostava de andar em festa, não tinha vício de nada. Era um menino que toda mãe queria ter, nunca me deu trabalho, nunca me deu tristeza, nunca me deu decepção”, diz Sandra. Morava em Manaus com um primo em 2008, quando se enforcou, aos 22 anos, no próprio apartamento. Sua morte ainda não assentou no coração da mãe. “Chegou ao meu conhecimento que ele se suicidou; só que assim, até hoje eu não sei da verdade.”
Do segundo filho, diz, já esperava “qualquer coisa”. Tinha um nome, Charles, mas era conhecido, conhecidíssimo na cidade, por outro: Bruninho. “Ele começou a conseguir droga muito cedo, assim com uns 13, 14 anos já começava a sair, não obedecer o horário que eu estipulava para voltar pra casa. Ele já tinha tentado três vezes, sempre sob efeito de drogas, e na quarta vez ele veio a falecer.” A primeira tentativa foi ali mesmo, na espaçosa casa da família a uma quadra da praça principal da cidade. Foi resgatado pela irmã mais nova. Na segunda vez, estava no batalhão do Exército em São Gabriel, onde serviu durante o período obrigatório. A terceira tentativa veio uma semana depois que o irmão faleceu. “Quando ele acordava, fazia de conta que não tinha acontecido nada. Quando ficava bom, voltava ao normal, nada.” Charles se matou em 15 agosto de 2009, aos 19 anos.

Ela conta assim a história do filho pródigo. Ele queria ir a uma festa na comunidade e pediu um motor de lancha para poder atravessar o rio. Já estava bêbado, ainda de tarde, e o pai ralhou. O filho ameaçou bater nele, na mãe, nos irmãos, e o pai resolveu dar queixa à polícia. O rapaz ficou em casa com a mãe. “Aí começou aqui: ‘Ai, eu vou me matar, vou me matar’. Toda vez ele dizia isso, mas nunca fazia”, lembra a mãe. Depois de algumas horas fechou-se no quarto. Sandra verificou ainda que ele estava dormindo e foi deitar. “Eu estava dormindo… Assim, meio que dormindo acordada, eu senti assim ele no meu pé, assim: ‘Mãe, me tira logo daqui’. Aí eu dei um pulo, olhei a porta e não tinha ninguém.” Chamaram a polícia, que arrombou a porta do quarto do filho. Ele se enforcara no próprio beliche.
Sandra ficou inconsolável. “Eu chorava muito dia e noite, eu não comia, não tinha mais o prazer de lavar nem comprar uma colher. A princípio eu não queria fazer tratamento, aí eu chegava em Manaus e lá me recaía tudo assim, os ambientes que eu andava com ele, os lugares, a faculdade dele…”. Afinal, em lugar do benzimento, Sandra tomou um antidepressivo e seguiu tratamento psiquiátrico em Manaus durante alguns meses. Hoje, está em paz com a sua dor. Conta toda a sua história de um impulso, na sala da sua casa, com apenas uma ou duas pausas para retomar o fôlego e entreter as lágrimas. A conclusão da história, vem na despedida, já no portão: “O que eu posso dizer é que meus filhos, que foram meus amores, eu sei que eles serão eternamente minhas dores”.
Uma outra escola
Os suicídios em São Gabriel e Santa Isabel vitimaram índios de quase todas as etnias, com um número bem maior de Tukano, um povo dominante na região, e Hupda, um povo nômade e de contato mais recente. Já entre os Baniwa, etnia que ocupa as margens do rio Içana, afluente do Negro em direção à Venezuela, a aflição que os assombrava desde 2005 – e os assombra até hoje – é quase como que um espelho ao revés. Em vez das colegas mortas e do homem de preto que assaltavam as meninas do Inês Penha, os adolescentes Baniwa eram assombrados na escola secundária Pamaáli por seres não humanos. Os dois surtos guardam semelhanças, observa o antropólogo João Jackson Bezerra Viana, que estuda o fenômeno há cinco anos: em ambos os casos, as crises ocorriam principalmente entre meninas de 13 a 16 anos, que as “transmitiam” aos colegas, aparecendo inclusive nos sonhos deles; e tinham a mesma característica na fase aguda, na qual seres conversavam com as meninas “em transe”.
Na Pamaáli, no entanto, não houve nenhum caso fatal, talvez pelo fato de que ali a comunidade achou uma explicação para a doença, depois de ter consultado os mais velhos. A escola, uma das primeiras experiências de educação indígena diferenciada, havia sido construída sobre a maloca dos Yóopinai, seres naturais que abarcam tudo o que é “perigoso” aos índios. Quando os alunos têm aula, é como se estivessem sapateando sobre as cabeças dos Yóopinai, Durante os surtos, os Yóopinai, representados frequentemente por um velho alto, alvo e todo vestido de branco, repetem incansavelmente que os querem fora dali.
João, que assistiu a diversos “ataques” ou “sonhos”, relatou-os em sua tese de mestrado na Universidade Federal do Amazonas, com o título “De volta ao caos primordial: alteridade, indiferenciação e adoecimento entre os Baniwa”. Segue um de seus relatos: “Ao entrar no alojamento, uma casa grande dividida em dois cômodos por uma parede, vejo primeiro uma aglomeração de pessoas em estado de preocupação e, depois, o alvo dos olhares: a aluna deitada em rede. […] A cena era forte, a menina se contorcia, debatendo-se como quem precisasse em um único golpe despejar todo o seu tormento, e expressando, mesmo a um primeiro olhar, evidente sofrimento. […] A aluna contraía pés e cabeça contra a rede, erguendo, por contrapeso, peito e tronco para cima, o que gerava em seus colegas uma necessidade imperativa de dominá-la, abafando tal movimento”. Durante as três horas de duração do “ataque”, a menina chorava e gritava pela mãe em Baniwa, entre crises de desmaio. “À beira da rede, ela reclamou da dor e chamava por socorro; isso porque, segundo eles, naquele momento ela estava vendo um velho ialanawi (ou seja, um branco), tentando matá-la, que a amarrou nas pernas e mãos.”
Como os suicídios, a doença na escola Baniwa jamais foi sanada por completo. Passado o surto inicial, os índios aprenderam a esperar por ela.

O massacre do desenvolvimento
Eleito presidente do Conselho Tutelar em 2006, no auge da tragédia, o pastor Marcos Ribeiro – que naquele ano fizera o “exorcismo coerente” – percebeu que havia algo em comum entre as meninas que tentaram suicídio: todas tinham deixado suas comunidades para continuar os estudos na cidade. Uma constatação ampliada por uma pesquisa realizada pelo Instituto Socioambiental e a Foirn em 1.444 domicílios em 2003-2004, que revelou que a maior parte da população urbana não havia nascido na cidade, sendo 43,8% proveniente de outras localidades da região do rio Negro. O principal motivo da mudança, citado por 36,6% dos entrevistados, foi a busca da educação secundária – a mesma oferecida corajosamente na Pamaáli, como forma de fixar os Baniwa no seu território. “O que acontece? Geralmente, os pais dessas crianças deixam com o tio, a tia e voltam pra a comunidade”, prossegue o pastor. “Elas ficam à mercê de circunstâncias, e elas são variadas. O que ela vê na comunidade? Um povoado cercado e rio, em que todo mundo ali é parente, todo mundo se olha, todo mundo se vê. Mas as crianças vêm aqui desamparadas. E elas estão vendo as coleguinhas delas, haverá esse choque aqui. Que tipo de choque? Os filhos dos militares, por exemplo, vêm aqui na escola e aí eu começo a olhar, as crianças olham, que ele tem e eu não tenho, ele vai lanchar e eu não lancho…”
Há mais um elemento importante, e recente, que deve ser levado em conta, comenta o secretário de Obras da cidade, Celso Delgado. “Foi essa época de muito êxodo rural por causa dos programas sociais do governo federal. Normalmente, quando eles descem, ficam três meses. Com a questão do Bolsa Família passaram a descer mais e a vir morar aqui mesmo.” Investigador da Polícia Civil licenciado –participou da investigação dos suicídios da escola Inês Penha –, ele conta que a prefeitura costuma oferecer lotes de terra de 12 metros por 25 metros aos recém-chegados, subdivididos em até quatro casas, dificultando o provimento de infraestrutura. “Nessa época houve um crescimento muito grande desses bairros, como Thiago Montalvo, Dabaru, Beira-Rio, Assentamento Teotônio Ferreira, Miguel Quirino, bairros desorganizados. Foi quando bateu mesmo esse choque cultural. Eles não tinham noção do que era morar numa cidade. Eram tudo de baixa renda, a maioria vinda de comunidade”. As benesses do Bolsa Família não sobem o rio.

Segundo um levantamento do Exército, apresentado didaticamente em um powerpoint para a reportagem da Pública, há 5.593 famílias atendidas pelo programa em São Gabriel, ou 27.965 pessoas: 67% da população. “O desenvolvimento é massacrante”, resume, solene, o general Antônio Manoel de Barros, comandante da Segunda Brigada de Infantaria na Selva (2o BIS), cuja sede fica num local privilegiado, de onde se vê o rio com clareza e suas cachoeiras. “É o um rolo compressor, e não há um timing para as coisas boas. Os efeitos colaterais são muito acelerados.”
É ele quem comanda a maior parte do impressionante aparato militar que se espalha pelo alto e médio rio Negro: sete pelotões especiais de fronteira, o 3o Batalhão de Infantaria de Selva, em Barcelos, o Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão de Infantaria de Selva, o 2º Batalhão Logístico de Selva, o Pelotão de Comunicações de Selva e o 22º Pelotão de Polícia do Exército, em São Gabriel da Cachoeira. São ao todo 2.500 homens, cerca de 2.100 em São Gabriel da Cachoeira, ou 10% da população urbana.
O fortalecimento do aparato militar ocorreu em 2004. Nos anos anteriores, houve alguns confrontos entre o exército e as Farc nas fronteiras com a Colômbia e Venezuela. “Aí o Exército acelerou um processo, ou seja, ele fortaleceu a estrutura existente, criou um comando de brigada. Com um oficial-general. E junto com isso vieram muitas estruturas”, diz o general. “O impacto econômico do Exército aqui é enorme”.
A chegada dos militares transformou São Gabriel na cidade brasileira mais desigual do país, segundo o ranking do Atlas de Desenvolvimento Humano 2013, da ONU. Embora a renda média per capita tenha subido quase 50% nas últimas duas décadas, a cidade tem índice de desigualdade de 0,8, sendo 1 a pior nota (a média do Brasil é 0,5). “É fácil entender, porque, se você tem grande quantidade de militares, o salário mínimo vai fomentar isso aqui”, diz o general. Enquanto ele fala, outro oficial projeta a caprichada série de slides ilustrativos na sala de reunião da sede da Brigada. Ele vai apontando: “Veja, com os efetivos de todas as organizações militares, a folha de pagamento, o impacto, você veja que a gente tem um impacto de R$ 8 milhões”. Hoje, os gastos da corporação representam 41% do PIB municipal. “E você vai ver que em dez anos aqui – claro que não é só por causa disso, mas também por isso – saiu de R$ 99 milhões para 209 milhões, ou seja, dobrou.”
“Dizem que há três grandes profissões aqui: agente de saúde, professor e militar”, continua o general, explicando a “estratégia da presença” do Exército Brasileiro, encabeçada pelo 2º BIS. Desde que assumiu, há pouco mais de um ano e meio, o general instalou uma patrulha do Exército na ilha das Flores (a alguns quilômetros rio acima de São Gabriel) que faz batidas cotidianas entre os índios. Os soldados costumam encontrar garrafas de pinga amarradas debaixo do barco, misturadas a mercadorias, debaixo de cargas de peixe. “A danada da cachaça. Que é terrível. Isso corrói realmente e é um problema seríssimo aqui. E é por isso um dos motivos que temos aqui um posto, porque aqui temos poder de polícia.”
A bordo de embarcações, os soldados sobem os rios também para fazer o alistamento militar nas comunidades, abrindo um novo ciclo de integração indígena ao projeto nacional. “O soldado indígena na selva não tem igual. Nos interessa, sim, que este representante indígena esteja conosco, porque ele faz parte do estrato social nosso. E ele vai ser também uma liderança”, diz, orgulhoso, afirmando que mais de 35% dos soldados da brigada são indígenas. “O Exército é um estrato da sociedade”, reforça, querendo com isso dizer que espelha sua composição social.
Há relatos de suicídio também entre os indígenas militares lotados no 2o BIS, embora não haja, segundo o general, nenhum trabalho específico para contra-atacar esse problema. “É claro que você trabalha com dados estatísticos e aqui [no Exército] não há nada fora da normalidade.” A Pública requisitou dados sobre as vítimas via Lei de Acesso à Informação, mas o Comando do Exército negou duas vezes. Alegou que consolidar os dados daria trabalho extra, mas garantiu que, para cada suspeita de suicídio, um Inquérito Policial Militar é instaurado. Ou seja, os IPMs estão lá, mas, como quase tudo o que se refere ao suicídio na cidade, é mistério, é segredo, não se fala nisso.
São Gabriel e seus castigos
A Secretaria Municipal de Saúde fica no segundo andar de uma predinho branco na abarrotada rua principal da cidade, uma barulhenta avenida com quatro faixas. Ali, algumas lojas dominam o comércio, estampando o sobrenome orgulhoso de seus proprietários, famílias que vieram de outros estados atrás de dinheiro e poder. Ao som do forró eletrônico que toca incessantemente, vende-se de tudo nesses pequenos magazines, adaptados para a Amazônia: ventiladores, colchões, chinelos, panelas, cadernos, tachos de secar farinha de mandioca, galões para encher de gasolina os motores dos barquinhos de madeira que vão para as comunidades do interior. Do seu escritório, o secretário de saúde Luiz Lopes responde à Pública pelo telefone. A pergunta é se a prefeitura tem alguma ação voltada para esse problema. “Não”, diz. E prossegue, com sinceridade invejável: “Eu não sei falar disso com você agora. Continua acontecendo, e muito. Mas é muito subjetivo, eu não consegui ainda ler nenhum trabalho voltado a essa questão em São Gabriel que fosse conclusivo. Não tem um material, não tem dados concretos”, diz ele. “Eu acho que tem que determinar a causa, os fatores que influenciam. Infelizmente a gente não sabe isso. Tá voltado a quê? Alcoolismo? Droga? É uma questão cultural?”.
O secretário parece ignorar a inerente injustiça que é associar os suicídios com uma característica cultural. Significa ignorar os aspectos históricos, em especial os primeiros contatos com os brancos, sempre traumáticos. Em São Gabriel, não há uma dessas meninas, um desses indígenas que não traga na própria vivência ou na memória de seus familiares episódios de violências inconfessáveis em nome da construção da nação brasileira. E com elas o diabo, introduzido pela vívida imaginação dos padres salesianos que comandaram a região durante quase todo o século passado, encravou-se ali para ficar.
 Dona Elza é sempre risonha, ri da vida como se eternamente estivesse caçoando das freiras salesianas que a educaram; quando alguém vem puxar conversa, pela janela da sua casinha sobre um beiradão de pedra à margem do rio – sempre aberta –, é difícil não encontrá-la, a cadeira de rodas diante da máquina de costura, disposta. Ri do medo que as pessoas têm dela, por estar sempre naquela cadeira; ri das tragédias da cidade de São Gabriel da Cachoeira, das antigas e das novas; ri das lendas que vão ganhando corpo, como a de que teria visto numa noite chuvosa o homem de “capa preta”, o próprio demo, aquele que levava ao suicídio os meninos e as meninas. “Demônio, eu não vi não; se aparecesse alguma pessoa, acho que eu tinha visto era Nossa Senhora pra mim”, diz ela. E ri.
Dona Elza é sempre risonha, ri da vida como se eternamente estivesse caçoando das freiras salesianas que a educaram; quando alguém vem puxar conversa, pela janela da sua casinha sobre um beiradão de pedra à margem do rio – sempre aberta –, é difícil não encontrá-la, a cadeira de rodas diante da máquina de costura, disposta. Ri do medo que as pessoas têm dela, por estar sempre naquela cadeira; ri das tragédias da cidade de São Gabriel da Cachoeira, das antigas e das novas; ri das lendas que vão ganhando corpo, como a de que teria visto numa noite chuvosa o homem de “capa preta”, o próprio demo, aquele que levava ao suicídio os meninos e as meninas. “Demônio, eu não vi não; se aparecesse alguma pessoa, acho que eu tinha visto era Nossa Senhora pra mim”, diz ela. E ri.
A fé inabalável, o jeito desenvolto com que fala em português sem nenhum sotaque; as costuras que faz dia e noite, noite e dia; e até o riso debochado como se fosse um desafio – tudo nessa pequena e velha índia é resultado do seu tempo no internato salesiano, onde cursou o ensino primário. Assim como seu marido, Alfredo, um jovial Tukano, também temente a Deus, e como quase todos os índios da região do rio Negro nascidos entre 1920 e 1970. Segundo estimativas da imprensa da época, havia mais de 200 padres e freiras salesianas, grande parte europeus, nas sete missões nos rios Negro, Uaupés, Içana e Tiquié. Segundo uma reportagem da Folha de S. Paulo de 1980, os internatos chegaram a receber 4 mil crianças naquele ano.
A Congregação Salesiana chegou ao rio Negro com carta branca e financiamento do governo federal para educar e catequizar os indígenas, integrando-os à “civilização brasileira”. Em 1914, a primeira sede de missão foi construída, junto à igreja que ainda está lá, acima da janela de dona Elza. A partir de então, os padres passavam de aldeia em aldeia recolhendo crianças de 6 ou 7 anos para serem levadas aos internatos. A ideia era separá-las dos pais para salvá-las da herança “pecadora”, em quase tudo repleta do diabo. Os religiosos se incumbiram também de reprimir todos os seus costumes: as malocas, símbolo da vida comunitária, foram destruídas e trocadas por casinhas de um cômodo. A última foi demolida em 1960. Jurupari, herói de diversas etnias, foi identificado com o “diabo”. As festas comunitárias, como dabacuri, eram vistas como demoníacas e sumariamente proibidas. Os pajés foram ridicularizados, seus ritos, proibidos. Assim os salesianos se encarregaram de introduzir de vez o diabo na região. As lembranças daquele tempo, contadas por avós e pajés, permanecem vivas entre os jovens que hoje assistem Malhação pela tevê e pintam os cabelos de verde.
“Não deixavam a gente falar nossa língua, não”, diz a dona Elza. Por ser apanhada falando Tukano, as freiras a fizeram andar uma tarde toda diante das outras alunas, carregando nas costas a placa: “Eu sou o diabo”. Outra vez foi pior. Roubou um pedaço de pão da cozinha, um pecado mortal, e teve as unhas cortadas até sangrar por uma irmã. Tampouco podiam falar com os meninos, como eram acostumados nas aldeias. “A gente não podia nem olhar pra cima, na hora da missa, imagina isso. A gente tava acostumado tudo junto”, diz dona Elza, e ri da malvadeza das irmãs católicas.
Nos internatos a vigilância era constante até mesmo sobre os hábitos de higiene – desde usar banheiros e escovar os dentes até banhar-se de roupa nos rios. Os castigos corporais eram comuns: palmatória, ficar de joelhos durante horas, comer sal. Todas as meninas tinham os cabelos cortados e os meninos, raspados. Recebiam uniformes numerados, com os quais eram identificados durante os quatro anos de formação, sempre nos moldes europeus: o corpo todo coberto, elas de vestidos de manga cumprida, eles de camisa e calça. Despertavam às seis para ir à missa, assistiam às aulas durante toda a manhã e à tarde faziam esportes e trabalhavam duro na roça, plantando o que todos comeriam nos dias seguintes; limpando as imponentes edificações salesianas; ou nas oficinas de carpintaria e costura, onde faziam as roupas e construíam os móveis e outros equipamentos usados nas missões; as meninas lavavam quilos de roupas e realizavam os afazeres domésticos. Faziam, ainda, inúmeros exercícios em fila militar, às vezes segurando fuzis, para “formar o caráter”, como se vê nas filmagens reproduzidas aqui, do documentário Remições do rio Negro, dirigido por Erlan Souza e Fernanda Bizarria.
Tamanha rigidez compensava, impressionando as poucas autoridades que passavam por esse rincão e garantindo mais verbas públicas. Após ter visitado as comunidades de Taraquá e Tapuruquara, no rio Uaupés, em 1958, o então presidente Juscelino Kubitschek escreveu com animação sobre as crianças que viu agitando bandeiras e cantando o Hino Nacional “com entusiasmo patriótico”: “Os salesianos fazem surgir no meio da selva virgem e secular o novo Brasil, criando uma geração nova, naquele centro que, emulando sob vários aspectos a iniciativa oficial de meu governo, a conquista do interior do país, afirma a vitória do espírito e do trabalho quando guiados pelo ideal de um Brasil melhor. Aos salesianos pioneiros nessa civilização, no vale Amazônico, os meus aplausos e meu propósito de auxílio e cooperação durante meu governo”.
Foi apenas nos anos 1980, já no final da ditadura, quando lideranças indígenas como Álvaro Tukano, e organizações como o Conselho de Povos Índios da América do Sul, passaram a denunciar a opressão salesiana, que os internatos foram substituídos por escolas públicas. Além de causarem dano irreparável ao imaginário e à cultura indígena, os salesianos ganharam muito dinheiro à custa dos “catequizados”, vendendo produtos artesanais com uma bela margem de lucro em São Paulo, Rio e no Museu do Índio em Manaus, que também administravam; os produtos eram transportados gratuitamente pela FAB, com presença constante na área durante a ditadura. Além de disporem de uma mão de obra baratíssima – eram os índios que construíam as novas escolas, igrejas e missões –, “inseriam” os jovens indígenas na sociedade manauara como bons empregados. “Hoje, em Manaus, a família que necessitar de uma empregada pode se dirigir à sede dos salesianos na cidade, que logo vai conseguir uma índia para trabalhar como doméstica em Manaus”, descreve reportagem da Folha de S.Paulo de março de 1980. “Por causa desse cruel processo, os prostíbulos de Manaus estão repletos de índias que perdem sua virgindade nas casas de famílias ricas de Manaus e acabam sendo deixadas abandonadas nas ruas”, finaliza a reportagem.
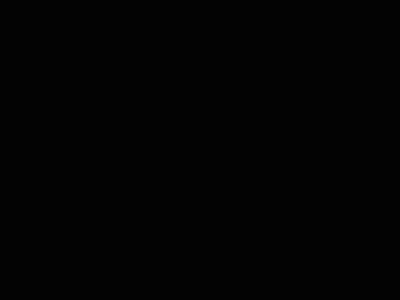
Os primeiros encontros com os brancos foram tão violentos que fazem parte do mito de criação compartilhado pelas etnias locais, segundo o qual a humanidade teria chegado à Terra em uma viagem da Cobra-Canoa. Reza o mito que, antes habitando as profundezas da terra, os humanos conseguiram sair de lá através do Lago do Leite – situado no Rio de Janeiro, capital da colônia portuguesa à época do contato. Ao longo do rio Negro, as etnias desembarcaram nos seus respectivos territórios; e até hoje a hierarquia de importância das etnias segue a ordem em que desembarcaram da canoa. No meio da viagem, a entidade criadora, Ye’pa Õ’akĩhɨ (em Tukano; Ñapirikoli em Baniwa), dispôs no chão uma série de objetos para serem escolhidos pelos homens. E assim se fez: o ancestral do branco pegou a espingarda e as mercadorias, ao passo que os ancestrais dos índios preferiram o arco e os enfeites cerimoniais.
A partir do século 19, os habitantes do rio Negro saíram do jugo da escravidão para passar à ganância dos comerciantes ou “regatões”, cuja estratégia era a servidão por dívida, em que o trabalho barato os fazia devedores pela compra de mercadorias caras. Os “patrões” mais afamados subiam o rio, aterrorizando aldeias inteiras em busca de homens e jovens fortes para retirar látex, matéria-prima da borracha, além de cacau e piaçaba. “Os mecanismos ardilosos do endividamento, o incentivo dos patrões ao consumo de cachaça pelos índios, o abuso sexual de mulheres e o tráfico de meninos para ser vendidos em Manaus e Belém são alguns exemplos de violência perpetrada pelos brancos que transitavam nessa região”, escreve a antropóloga Cristiane Lasmar no seu livro De volta ao Lago do Leite – Gênero e transformação no alto rio Negro.
A fundação da cidade
O primeiro boom urbano de São Gabriel aconteceu após o crepúsculo dos internatos salesianos. Por estar situado em zona de fronteira, em 1968 a ditadura decretou-o área de segurança nacional em junho de 1968 (Lei 5.449) e instaurou ali seu Plano de Integração Nacional na região, levando mais de 4 mil homens, entre os que compunham o I Batalhão de Engenharia e Construção do Exército (BEC) e os contratados pelas empresas Queiroz Galvão e EIT (Empresa Industrial Técnica) para construir a rodovia Perimetral Norte (BR-210) e a estrada BR-307 (até Cucuí, na fronteira com a Venezuela). Em meados da década de 1970 uma infraestrutura básica de rede elétrica e água encanada foi implantada na sede municipal. Foram construídas também as primeiras escolas públicas para atender os filhos dos militares e operários que chegavam ao município. Após o fechamento dos internatos salesianos, essas escolas passaram a receber também os indígenas, vindos de comunidades no interior.
O assédio às mulheres indígenas foi uma das marcas dessa época, conforme relatos coletados pela antropóloga Cristiane Lasmar: “Elas contam que os brancos levavam as moças para a estrada em construção para ‘dar uma geral’, ou seja, estuprar em grupo”, escreve. Eram as indígenas que vinham das comunidades para trabalhar em casas dos funcionários das construtoras e do Exército, aquelas que haviam sido educadas pelos salesianos para trabalhar em casas de família.
Os casos de estupro persistem no século 21. Desde pelo menos 2010, um grupo de “endinheirados” reinventou as “gerais” dos anos 1970, aliciando meninas de 9 a 13 anos para uma rede de exploração sexual, às vezes à força, às vezes em troca de bagatelas como um bombom, um biscoito, alguns produtos na venda para seus pais ou tios. Os criminosos tinham sobrenomes importantes, entre eles os três irmãos Carneiro – Arimatéia, Manuel e Marcelo –, donos de grandes lojas de comércio na rua principal, e o ex-vereador pelo PR Aelson Dantas da Silva. A virgindade de uma vítima, entrevistada pela repórter Katia Brasil, do site Amazônia Real, custou R$ 20 ao estuprador. “Ele me levou para o quarto e tirou minha roupa. Foi a primeira vez, fiquei triste.” Outras meninas contaram que ganharam chocolates, dinheiro e roupas de marca em troca da virgindade.
“O que o aliciador fazia? Ele ia pro colégio lá e quando as menininhas tavam ali, tal, ele oferecia lanche. Depois começava a levar dentro do carro pra tal lugar. Pra lanchar. Sempre na base da fome, do saciar a barriga. E depois ia começar a dar os presentes, eles iam dessa forma. E quando eles queriam algo realmente, eles começavam também a puxar os pais pra fazer compras no comércio. Então ele já passava a ideia de segurança, de que ‘fulano é homem bom’”, diz um funcionário que acompanhou alguns casos, mas pediu que não fosse identificado. Ainda hoje, falar sobre a rede de pedofilia amedronta as principais testemunhas. Dez pessoas foram presas e denunciadas pelo Ministério Público com base no depoimento de 16 meninas. Três delas, incluindo dois irmãos Carneiro, estão em prisão preventiva por haver ameaçado testemunhas e até jornalistas. O terceiro irmão, Marcelo, está foragido desde que conseguiu um habeas corpus no começo deste mês, durante um plantão judicial, sendo libertado imediatamente. O habeas corpus foi cassado no dia seguinte.
O fato de o abuso sofrido pelas meninas indígenas ter finalmente chegado à Justiça deve-se, em grande parte, aos esforços do procurador federal Júlio Araújo, que em 2012 visitou o município e ficou chocado com o que viu. O esquema era conhecido por todos, ocorria à luz do dia, em ruas movimentadas dos bairros mais populares e diante de escolas públicas. “Havia uma tentativa de tratar o tema como algo natural ou cultural na cidade. E reflete muito esse estado de vulnerabilidade. Se falava na cidade que era normal, que isso sempre foi assim”, diz Araújo, que hoje comanda o processo do MPF de dano moral coletivo contra os acusados. “Isso era dito pelos não indígenas, que veem aquilo como algo corriqueiro. Diziam que ‘até os pais apoiam’ ou ‘é melhor pra elas’. A submissão das meninas indígenas é colocada a tal ponto que isso acaba sendo visto até como um benefício para elas”.
São Gabriel e Seus Sábios
Se existe salvação em vida para as almas atormentadas de São Gabriel, ela deveria morar numa rua situada entre a igreja católica e o campinho de futebol, que reúne todas as frentes institucionais de combate ao suicídio na cidade. A começar pela casinha branca do Conselho Tutelar, onde a presidente Belmira da Silva Melgueiro recepciona os visitantes com um sorriso no rosto. “Esse ano de 2014 a gente não conheceu nenhum índice de suicídio de adolescente”, afirma, embora os dados enviados à Pública mostrem que a prefeitura registrou pelo menos três casos: uma menina de 14 anos, um menino da mesma idade e uma jovem de 18.
Os últimos casos de que ela se lembra aconteceram em 2012. “Hoje não é mais assim”, garante. “Não sei te responder por que baixou. Teve época que era um atrás do outro, às vezes três por dia, um não tava nem bem enterrado, outro já tava morrendo”, lembra. E arrisca: “Era droga mesmo. E bebida mais por parte da família. Só que teve meninas e rapazes também que a gente não conseguiu muito entender, porque na época teve suicídio de meninas que nunca tiveram problemas nem com a família nem com drogas”.
Belmira lista de cabeça as medidas tomadas naquela época: marchas pela vida capitaneadas pelo Conselho Tutelar, pelo Conselho de Direitos Humanos e pelo Programa Sentinela, ligado ao Ministério de Desenvolvimento Social, além de reuniões periódicas nas escolas nas quais “chamavam a gente pra estar palestrando sobre a importância da vida”. Para alcançar as comunidades, o Conselho usou barcos cedidos pela paróquia “porque nós não temos essa logística pra sair daqui”. Mas essas ações, ela reconhece, não resistiram ao tempo e ao esquecimento. “Daquela época pra cá, a situação social só piorou. Casos de depressão [de adolescentes] tem sim. Aqui tem bastante. A gente pega esses casos e encaminha para o Creas [Centro de Referência Especializado de Assistência Social]; quando é problema de álcool, a gente encaminha para o Caps [Centro de Atenção Psicossocial], que trabalha. Mas a depressão não tem levado a suicídio mais não, graças a Deus.”
Para saber como os meninos encaminhados são recebidos no Caps, ligado ao Ministério da Saúde, basta andar dois quarteirões. A casa fica logo ali, na mesma calçada. Nela trabalha uma jovem psicóloga, Fernanda Peinado, encarregada de coordenar o atendimento a pacientes com transtornos mentais e problemas relacionados ao álcool. Ela conta que no Caps os jovens recebem acompanhamento psicológico e depois passam por oficinas terapêuticas e – na teoria – ainda são vistos por um médico. Porém: “Nossa equipe também é muito fragilizada. A médica foi embora, a enfermeira foi embora, então a gente sempre tá passando por um problema de falta de equipe”, suspira.
Em dezembro do ano passado, o Caps abria as portas apenas pela manhã, até meio-dia. Fernanda era a única psicóloga do centro, encarregada de dar apoio aos cerca de 120 prontuários “ativos”, entre adolescentes em depressão, pacientes com transtorno psiquiátrico, até o mais comum, indígenas que abusam do álcool. “As equipes nas unidades estão revezando: uma equipe trabalhou na semana passada e outra, agora. Não dá pra trabalhar de manhã e à tarde.”
Apenas um mês antes, Fernanda recebera uma ligação às sete da manhã: um de seus pacientes tentava se matar. A jovem psicóloga nunca tinha vivido essa situação. Foi correndo até a beira do rio. “Ele estava tentando se jogar na cachoeira e todos os familiares estavam lá tentando ajudar. Quando cheguei, estava totalmente transtornado, fora de si.” Depois de alguma conversa, conseguiu acalmá-lo e levá-lo ao hospital. Hoje, o rapaz está em tratamento em Manaus. Trata-se de um final feliz. Cinco meses antes, outro paciente foi levado pelas águas negras. “Depois eu pude fazer um resgate do histórico dele. Você vê que já tinha depressão, já era um homem, 33 anos, mas, depois que a esposa resolveu separar, ele não viu mais sentido na vida. Nesta época, eu estava em licença-maternidade, não tinha outra psicóloga, só a enfermeira, e aí ele ficou meio que desamparado. Já não havia sido a primeira tentativa.”
Atravessando a rua, encontra-se a instituição que deveria funcionar como salvaguarda maior dos índios aldeados. É o prédio do DSEI, o Distrito Sanitário Especial Indígena, onde 25 equipes de saúde e três médicos cuidam da saúde de cerca de 38 mil índios em 673 aldeias. O DSEI compreende a área de mais dois municípios banhados pelo rio Negro, além de São Gabriel: Barcelos, o segundo maior do país, e Santa Isabel. É uma área que equivale a quase dois estados de São Paulo.
Ângelo Henrique dos Santos Quintanilha, ex-diretor do distrito, diz que “hoje as equipes estão bem mais preparadas” para lidar com casos de suicidas entre os índios aldeados. Ele é o mais antigo funcionário do DSEI – ex-militar, na década de 1990 foi servir em São Gabriel e decidiu ficar. Ajudou a fundar o órgão em 2000. “Na época, a gente não tinha um psicólogo para orientar quando tinha algum caso assim. Hoje, quando tem um caso, a gente já tem a psicóloga, e aí ela trabalha com a equipe, e a equipe já vai preparada.” Nos últimos anos, o distrito elaborou linhas de ação e prevenção e uma ficha específica de investigação do óbito autoinfligido. Mas a principal ação, explica ele, é o acompanhamento das famílias das vítimas, depois da ocorrência das mortes e, ainda assim, quando possível. Em todo esse tempo de trabalho, o chefe do distrito sempre evitou o contato direto com as vítimas. “É uma coisa particular minha. Não vou ver o defunto. Inda mais se ele se enforcou. Eu sou meio espírita também, eu me arrepio disso aí.”
À equipe do DSEI cabe registrar, investigar e reportar ao Ministério da Saúde todos os casos de suicídio ocorridos no interior. Os números são contabilizados durante as “entradas”, que acontecem da seguinte maneira: uma equipe de três ou quatro membros viaja até quatro dias para chegar a um dos 25 polos-base de atendimento – construções que servem de “porta de entrada” ao SUS, de onde os pacientes podem ser encaminhados para hospitais mais bem preparados. Ao longo de um mês, a equipe visita a área de influência de determinado polo-base, que pode chegar a 110 aldeias. Ali, os técnicos têm de preencher a ficha de notificação/investigação do óbito, buscando coletar informações na comunidade.
Mas “normalmente a equipe volta com nenhuma informação ou muito pouca”, diz a psicóloga Valéria Magalhães, que coordena o trabalho na área de São Gabriel da Cachoeira. “Normalmente é ‘ah eu cheguei lá e eles estavam na roça, não encontrei ninguém’, ou então encontram uma pessoa que diz não ter nada pra falar”.
No ano passado, a situação chegou a um ponto caótico. As equipes de saúde deixaram de ir às aldeias por meses a fio; os práticos (motoristas dos barcos) entraram em greve por falta de pagamento.
Valéria é a única psicóloga que atende na Casa de Saúde Indígena (Casai), centro que acolhe os índios aldeados que precisam de acompanhamento médico prolongado na cidade. É responsável, também, por preparar e ouvir as equipes em seus problemas de relacionamento com os indígenas. Muitas vezes, têm dificuldade em lidar com o que é a doença e o que é a cura para os índios. É comum que se ressintam, por exemplo, quando eles preferem acorrer aos pajés quando doentes. Ou então, que os pajés se ressintam dos enfermeiros do DSEI. “A verdade é que o que a gente conhece da nossa psicologia não se encaixa na realidade indígena. A gente tem que se despir desse nosso conhecimento pra tentar entender o deles e ver no que a gente pode contribuir”, diz. Por isso, ela sente falta de antropólogos no DSEI. “Até nessa questão do suicídio, os antropólogos podem ajudar a gente a entender o que é um suicídio pro indígena, porque a gente não tá preparado para isso”, explica. “Não botam [nenhum antropólogo]. É impressionante isso.”
As diretrizes de atendimento à saúde mental indígena foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde em 2007, por meio da Portaria 2.759. Um dos principais motivos foi exatamente o alarmante índice de suicídios entre os indígenas brasileiros, com especial destaque para o Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Mas o Relatório de Gestão da Secretaria Especial de Saúde Indígena de 2013, o mais recente disponível, destaca que os parâmetros de atuação dos profissionais na saúde mental indígena “ainda não foram definidos de maneira adequada” e que “os poucos dados epidemiológicos disponíveis eram coletados de maneira heterogênea pelos diferentes DSEI a partir de instrumentos de coleta próprios elaborados pelos profissionais de saúde. Dessa maneira, o material coletado das diferentes realidades não era passível de sistematização e análise pelo nível central”.
As falhas na coleta de dados sobressaem entre os casos levantados pela reportagem. O caso de Tiago Lima, o filho de Zeferino e primo de Almerinda Ramos que se matou, por exemplo, não aparece na tabela do DESEI/ARN enviada à Pública. Do mesmo modo, o caso de suicídio relatado por Fernanda Peinado, do Caps, não está registrado na primeira listagem enviada pela prefeitura, que lista apenas casos de morte por enforcamento. Tampouco são registrados pela prefeitura, segundo o coordenador de vigilância epidemiológica, a etnia daqueles que consumaram a morte voluntária.
Já em 2011, a detalhada investigação feita pelo MPF apontava a urgência de sanar a desinformação sobre os casos de morte autoinfligida, “bem pior nas áreas citadinas”, escreveu o perito Walter Coutinho Jr. Segundo o relatório, não existe nenhuma instância que se responsabilize pelo registro de todas as mortes, seja na cidade ou nas aldeias, nem pelo registro de tentativas, um elemento essencial na estratégia de prevenção recomendada pelo MPF. Os que tentaram o suicídio, por exemplo, deveriam receber atenção especial por pelo menos seis meses, de modo a evitar a reincidência. Outro ponto levantado pelo MPF é que “o ‘saber ancestral’ indígena continua sendo ignorado no contexto das instituições locais”. O MPF recomenda que haja um esforço pela “real participação de pajés e benzedores nos itinerários terapêuticos adotados no âmbito do DSEI Alto Rio Negro e serviços municipais de saúde”.
O parágrafo final do relatório – que, é bom dizer, continua sumariamente ignorado pelos órgãos competentes – conclui: “De um modo geral as iniciativas que contribuem para a valorização da comunidade étnica e da cultura indígena, proporcionando o reforço da organização interna das comunidades e a reafirmação dos laços sociais e familiares, tendem a exercer um efeito positivo para debelar ou diminuir a ocorrência de suicídios no panorama alto-rionegrino contemporâneo. Por meio delas, os indígenas (especificamente os mais jovens) têm a oportunidades de se reconectar com a sua história e vislumbrar um devir coletivo significativo (…) e que permite tanto quanto possível, a reconciliação entre a vida e a morte”.
Procurada insistentemente para comentar a situação do DSEI e as ações de combate aos suicídios indígenas, a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde não respondeu às perguntas da Pública.
A busca de Maximiliano
Na salinha que ocupa no prédio da Fundação Oswaldo Cruz, em Manaus, repleta de livros e papéis empilhados desordenadamente sobre a mesa, o médico psiquiatra e pesquisador Maximiliano Loiola Ponte de Souza é um dos poucos que têm se debruçado com afinco sobre o espinhoso tema dos suicídios rio-negrinos disposto, de fato, a entendê-lo. Ele passou parte dos últimos sete anos na “cidade dos índios”, o distrito de Iauaretê, onde a língua mais ouvida é o Tukano, os brancos são poucos e as ruazinhas características de aglomerados urbanos amazônicos têm placas em diversas línguas indígenas. Seu ponto de partida foram suas pesquisas de mestrado e doutorado, a primeira sobre a violência entre os nativos e a segunda sobre o alcoolismo. Delas, trouxe uma compreensão rara de quem são afinal aquelas pessoas que passam por tamanha aflição. Como a importância de ouvir os sábios, ou “intelectuais nativos”, como define. “Eu uso o mito para compreender não o que acontece, mas como as pessoas entendem o que acontece.” O suicídio, diz ele, tem características inerentes do indivíduo, atributos do mundo social e atributos do mundo espiritual, “que de forma sinérgica atuam vulnerabilizando as pessoas ao suicídio”.
Maximiliano enxerga um padrão nos casos de suicídios narrados pelos indígenas: “Você tem um conflito prévio, que muitas vezes tem a ver com questões da sexualidade ou da obediência às regras. E aí, no momento de uso do álcool, esse conflito se reagudiza”. A chave, diz ele, são as regras do convívio social, que no rio Negro são imbuídas dos valores tradicionais e definem com quem você come, com quem você tem relações sexuais, com quem você não tem. “Agora, você resumir que a culpa é do álcool é muito pouco”, afirma.
O álcool, como bebida sempre disponível, é um fenômeno relativamente novo: algumas décadas atrás, o transporte precário dificultava a oferta. Os índios, desde sempre, usavam o caxiri, bebida fermentada feita de mandioca e milho, exclusivamente pelas mulheres, e apenas para as festas. E então todos bebiam, desde crianças até os anciãos, até cair no chão, acordar e dançar tudo de novo no dia seguinte. A festa durava quanto tempo durasse o caxiri. “Esse era o momento de resolução dos conflitos, seja apaziguando, fazendo novas alianças ou quebrando o pau mesmo”, descreve Maximiliano.
Na sua tese de doutorado, ele explica: que permanece a ideia de “beber até acabar o que tem, até cair”. Mas, “como eles dizem, na cidade a bebida não acaba”. Nem nas comunidades. Em São Gabriel, diz-se, enquanto os brancos bebem para esquecer, os índios bebem para lembrar. “Antes, por exemplo, eu podia ter um problema com um cara, quebrar um pau com o cara, minha família virava inimiga da dele, eu pegava minhas tralhas, ia pro outro lado do rio. E não ia conviver com ele no cotidiano.” O ponto fundamental dessa nova convivência, como já apontava o estudo do ISA e da Foirn, é a escola. “A escola é a criadora do conceito de juventude”, diz. É a juventude, criada pelos internatos salesianos, que capitaneia a migração para as cidades, em busca de educação e um futuro melhor, e herda suas brutais consequências.
Enquanto pega seus papéis anotados, desenhados, ele se pergunta em voz alta qual seria a melhor maneira de a saúde pública intervir nesse problema. “Isso é olhado como algo no campo da saúde mental. Mas eu, sinceramente, não sei se é por aí, mas também, sinceramente, não sei se não é. Seria o caminho a gente ir pra a psiquiatria ou por uma estratégica que a galera aí que trabalha com bairros e favelas, que trabalha com estratégias populares de mediação de conflitos? Isso porque, se o problema é conflito, eu tenho que enfrentar o conflito, e não depressão”, diz. “Porque, não sejamos ingênuos, nós não vamos acabar com os conflitos.”
Maximiliano não deixa de lado também o que chama de “dimensão espiritual” do suicídio. Fala sobre a crença, muitas vezes ouvida, de que os espíritos daqueles que se matam ficam na terra, voltam para puxar aqueles que eram próximos a eles em vida. “É como se fosse um cabo de guerra entre os vivos e os mortos”, explica. E detalha: “É bem documentada a existência do que os estudiosos de saúde pública chamam de ‘suicídio por contágio’. Entre pequenas populações tradicionais e rurais, isso é muito bem documentado. Tem vários estudos que demostram que o suicídio tem alguma dinâmica na qual pessoas inter-relacionadas se matam em cadeia. Eu acredito que a tese dos espíritos que vêm buscar tem, de algum modo, relação com isso. Não deixa de ser o modo nativo de explicar isso”.
Ele reflete sobre uma palavra: contágio. “Veja como nós, do mundo ocidental, lemos a coisa. Como um ‘contágio’. Porque temos no nosso arcabouço de mitos que existe uma coisa chamada bactéria, que passa de um pro outro. O que faz a conexão da doença passar de uma pessoa pra outra é a tal da bactéria. Na concepção nativa, eles possivelmente experienciam a mesma vivência, que é a de observar que pessoas próximas acabam se matando. Só que o repertório explicativo dele vai beber das fontes da sua cosmologia, da relação do mundo natural, dos espíritos etc. São estratégias, diante de um fenômeno mesmo – pessoas aparentadas próximas umas das outras que se matam –, para se explicar por que isso acontece”.
O pajé-onça
“Alguém do governo veio procurar o senhor, seu Mandu?” A resposta é um aceno negativo de cabeça. Nenhum serviço de saúde, psicólogo ou membro do governo procurou seu Mandu, um dos mais poderosos pajés que vive hoje em São Gabriel da Cachoeira, único pajé-onça do povo Baniwa que continua vivo, conhecido por sua sabedoria xamânica ancestral. Os pajés-onça são o estágio mais avançado de xamanismo entre os Baniwa; seu treinamento demora cerca de dez anos.
Seu Mandu – Manoel da Silva no registro – é considerado um “tesouro vivo” pela Fundação para Estudos Xamânicos, uma organização sem fins lucrativos sediada na Califórnia, e motivou a construção da primeira Escola de Pajés, no rio Ayari, para que ele pudesse ensinar os mais novos. O poder de seu Mandu é tão grande que ele faz doença do mundo virar pedra negra enquanto benze os seus clientes, que chegam a pagar de R$ 150 a R$ 200 por uma sessão. Ercília, a filha, diz que o pai tem 94 anos, é quem traduz a fala veemente em Baniwa de seu Mandu a respeito dos “enforcamentos”, em resposta às perguntas da repórter. Só a idade lhe faz pausar e deixar a filha falar à vontade, interpretando-o. Às vezes a corrige – tanto em português como em Baniwa – e a voz salta por cima dela. “Antigamente não tinha não, agora que aparece…”
Na última década, sua casa, que fica nos fundos de uma ruela de terra e mato no bairro de Padre Cícero, foi o lugar aonde acudiram dezenas de famílias que enfrentavam as tentativas de suicídio. Foi a ele que Elizabeth da Silva buscou quando procurava apaziguar a prima de Laísa, que a via constantemente após a morte. “Ele ajudou muito a gente”, diz Elizabeth. “A gente, que é índio, acredita nessas coisas também.”
A filha de seu Mandu conta que o último cliente, de carne e osso, a ser tratado, passou por ali em 2013, um menino Tukano de 19 anos. “Fica bêbado, aí ele não sabe o que tá fazendo, ele pega a corda porque no ouvido dele diz que ele escuta… Assim que ele escuta: ‘Vai logo pegar a corda, que eu quero ver você amarrado o pescoço pra ti ficar igual como eu’. Aí ele amarrou.” A mãe o viu, assim pendurado, e conseguiu cortar a forca com um terçado. Quando caiu em si, o rapaz suplicou para ser levado a um benzedor.
O pajé-onça diz ter visto pessoalmente o tal espírito há cerca de três anos. “Ele disse que ele é um preto… Preto alto. Forte. Ele disse que ele viu como gente mesmo. Mas só que ele era bem preto. Preto, alto, bem forte”, descreve a filha. Pergunto se o pajé-onça ouvira falar de uma figura de preto que as meninas da Maria Inês Penha diziam enxergar, chamando-as. “Ele mesmo. É ele mesmo. Só tem um”, responde seu Mandu em português. No encontro com o espírito, o pajé lhe pediu que poupasse sua família. Em seguida ele alertou Ercília: “Olha, filha, vamos esperar uma semana. Dentro de uma semana aqui nesse pedacinho do nosso bairro vai acontecer uma morte, porque o espírito mau vai passar aqui”.
Uma semana depois, um vizinho foi encontrado enforcado, pendendo sob a cerca de arame. Era o segundo da família a se suicidar. “Um rapaz bonito. Harlem”, diz Ercília. Como outros enforcamentos “de família”, seu Mandu explica que o espírito do irmão havia ficado vagando por ali. “Isso acontece com quem se mata assim”, diz Ercília. “Enforcado… Porque de repente não é hora de eles irem, né? Aí eles ficar assim, perturbando os outros.”
Esse espírito negro que continua a assombrar os bairros de São Gabriel é possuidor de uma corda, um laço e viaja pelo céu, na narrativa do pajé. “Depois ele manda, ele vem descendo, descendo, até entrar. Aí entra aqui, depois, ele puxa pra segurar… A corda vem lá de cima”, diz seu Mandu baixinho, como a voz calejada permite. “Aí ele puxa”, e faz o gesto, como se fosse fisgar uma presa. O objeto que ele simula usar ao representar o espírito não é bem uma forca nem um laço, mas um tipo de malhadeira, trama de pano que os índios usam para prender a pesca e a caça que se arrasta pelo chão.
Armando de Lima também viu a forca. Mas o índio Tariana, pai de 15 filhos, não é famoso como seu Mandu. Preferiu manter o segredo em família como aprendeu com o pai, pajé poderoso. Ele dedicou boa parte da sua juventude a aprender, passava as noites ouvindo o pai lhe contar os mitos, mostrar cada uma das ervas e os dizeres dos benzimentos. Repetia as palavras até se impregnarem dentro dele. Para cada mal, havia um benzimento correto, dizia o pai. “Vai aparecer muitas coisas também que você não vai entender”, dizia o pai, antecipando o que não tem tradução na sua língua: que, no futuro, haveria muitos suicídios por enforcamento.
Armando cheirava paricá – um pó feito da semente da árvore de mesmo nome – para falar com os espíritos e usava um cigarro de tabaco “antigo” para limpar doenças. E ia aprendendo. O pai explicava: “Muitas vezes vão andar no sonho, espíritos vão te contar, aí tu benze”.
Da primeira vez, viu a corda num sonho. Vinha – ela também, como a Cobra Canoa – lá do Rio de Janeiro. “Eu vi muito muito muito muito muito muito muito eu tava sonhando, né, sonhei, tinha já dois forquilho lá no céu, eu sonhando, a corda tava lá no Rio de Janeiro, a corda vinha de lá, o laço passava lá em cima do telhado, chegava lá a corda. Aí chamava essa corda né, eu vendo uma casa assim lá do alto vinha o laço aí vinha tinha sempre antena, duas antenas, como antena parabólica… Aí ela chamava como ímã, essa antena. Aí eu via as crianças, rodando, e gritava, aí ele entrava lá aí ele puxava aquela corda, shhh, puxava eles aí. Puxava a pessoa que queria”.
Armando de Lima é um dos muitos pajés que se valem dos seus benzimentos para apaziguar a onda de suicídios que acossa São Gabriel. Passou a benzer os atingidos pela onda dos suicídios a pedido de um irmão seu, que era professor na Maria Inês Penha. Talvez o benzimento maior da sua vida tenha sido o que ele fez pelas pobres meninas do Inês Penha, lá em 2006. “A corda chama-se olho do mal”, explica Armando. “Que puxa, né? Aí ele mesmo vai se matar. Ele dizia, vai ser como a gente faz armadilha porque nosso costume a gente fazia armadilha matando peixe, matando anta e tudo mais, a gente puxava o caniço, colocava lá uma argola. Uma corda.” Pai de Almerinda Ramos, a presidente da Foirn, o velho tem de constantemente travar batalhas pela vida dos próprios filhos, que tentaram o suicídio repetidas vezes.
Seu segredo foi esquecido durante muitos anos, depois ter mudado para a cidade, formado os filhos professores, lideranças indígenas. Para lembrar, foi preciso morrer. Aconteceu em 2003, quando teve de fazer uma cirurgia no coração. “Só que eu sei muita coisa, por isso estou vivo. No sonho me disseram assim, lá os espíritos: ‘Você vai voltar porque você tem segredo, não tem nenhuma obra que você montou aqui na terra’. Aí no sonho eu voltei. Logo eu comecei a trabalhar, quando eu tava bom. Depois da operação. Depois que eu morri.”
Hoje, para chamar seu benzimento, ele faz jejum desde a tarde anterior. Acorda às quatro horas, no silêncio da noite na floresta, pega o tabaco ou, com sorte, o breu, cuja fumaça espalha ainda mais. E começa a rezar. “Como eu tava sonhando, estava amarrado lá no Rio de Janeiro, porque lá é onde começaram, digamos, foi lá que começaram viver os índios, né, desde a criação. Então lá está amarrada esta corda, amarra, passa lá pra cima, chega assim o laço. Aí eu tiro esse laço com meu segredo, com meu espírito, né, enrolo… Tiro de lá, enrolo e guardo lá no céu esse laço. Aí depois eu faço pra a pessoa né, pra a pessoa de qualquer uma, alegria, de uma alegria. A alegria é como os pássaro. Tu já viu rouxinol, tu já viu esse… Como chama, japim, japim são dois, preto e vermelho. Tem o sabiá, tem esse que fala, não sei como que chama, com nome, né, e tem outro, mais passarinho né, desse tipo, com esse a gente chega no espírito dele, chama pra ficar tanto com menino e a mulher né? Aí a gente chama mais… Você já viu japu, você já viu, esse galo de serra, tem mais esse pássaro grande que mora lá em cima do alto, pássaro, com esse a gente chama ele com espírito né, poder para que a gente fica com eles, dizer fica com eles nessa alegria. Depois a gente, andorinha, que em cima do pau, chama ele, fica com ele, aí depois tem desses… Desse… Eu não sei como dizer, tem… O pequenininho passarinho que tá tudo por aqui tem, esse que chama bi-tian-tian bi-tian-tian ti-tian-tian, ele canta. Aí desse tipo, depois de tudo isso é o chefe mesmo, pai dele, pai, chefe, rei de todos eles, da mata, dizia meu pai que era Jacamê. Aí ninguém vem mais, ele canta, grande, tu-tu-tu-tu-tu, eu não sei se você já ouviu tu-tu-tu-tu-tu, ele canta né? Aí, com esse corpo dele a gente chega, com essa alegria a gente tem que estar. Eu rezo assim, termino. Esse é meu benzimento.”






 PayPal
PayPal 


















