A investigação foi feita com apoio do Pulitzer Center
Se um extraterrestre pousasse no Brasil e se baseasse apenas em livros escolares, filmes e livros clássicos, provavelmente pensaria que o país é majoritariamente branco e que a escravidão aqui, diferentemente de outros lugares, não teria sido tão ruim assim.
É o que se vê, por exemplo, em Orfeu negro, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960, a Palma de Ouro em Cannes e o Globo de Ouro. Protagonizado por atores negros, o filme levou ao resto do mundo a ideia de que o Brasil seria uma “democracia mestiça”. E no livro Casa-grande & senzala, provavelmente o mais influente sobre a escravidão no Brasil, Gilberto Freyre defende que a sociedade brasileira é fundada na miscigenação entre brancos, negros e indígenas.
Mas é só viver um pouquinho nestas terras para a imagem de um país sem conflitos raciais cair por terra. Na verdade, a história brasileira é fundada em conflitos e opressão, como mostram as reportagens do Projeto Escravizadores, da Agência Pública. O Brasil teve o maior contingente de escravizados das Américas (quase cinco milhões de pessoas) e foi o último a abolir o sistema, sem nenhuma política de inclusão daquelas pessoas à sociedade. O resultado é um dos países mais desiguais do mundo, no qual o número de pretos vivendo na pobreza é o dobro do de brancos, e em que seis em cada dez negros alegam ter sofrido racismo no ano passado.
O descompasso com a realidade se deve ao fato de a história da escravidão no Brasil ter sido manipulada e romantizada, fruto de um “projeto nacional de esquecimento”, defende o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor da trilogia Escravidão. “Tem um ditado africano que diz que, enquanto o leão não aprender a escrever, a história será contada pelo caçador. E nós aprendemos a versão do colonizador branco”, afirma.
Para ele, o Brasil ainda não deu certo porque nunca refletiu verdadeiramente sobre suas raízes escravocratas, e que é só discutindo esse passado doloroso que, um dia, o Brasil poderá se tornar mais justo. “É um chamado à realidade, para a gente não levar adiante esse projeto nacional de autoengano, que só complica a construção do futuro do Brasil”, afirma.

Por que, na sua visão, a escravidão no Brasil ainda é pouco estudada e vista como um assunto “menor”?
Eu acho que nós temos no Brasil um projeto nacional de esquecimento. Não só de esquecimento, mas de manipulação deliberada da história. A memória pode ser uma ferramenta de construção de um projeto de poder, de justificar a submissão de um grupo de seres humanos pelo outro. O Brasil formou o maior território escravista do hemisfério ocidental. Cerca de 40% de todos os africanos que vieram para a América tiveram como destino o Brasil. E foi o último país a acabar com a escravidão.
Então, criou-se uma mitologia muito forte, segundo a qual, primeiro, a nossa escravidão seria gentil, patriarcal. Uma escravidão em que nós nos misturamos muito pela miscigenação. Então, a escravidão não seria tão violenta quanto nos Estados Unidos, quanto no Caribe.
O que é uma balela, certo?
A escravidão brasileira foi violentíssima, tanto quanto em qualquer outro território escravista. O meio de manter milhões e milhões de pessoas submissas no cativeiro foi o chicote. O chicote ou aquela infinidade de instrumentos de tortura, que incluíam correntes, argolas, torniquetes, uma coisa absurda. Mas essa mitologia de que a escravidão brasileira foi boazinha e patriarcal, que é muito forte no livro Casa-grande & senzala, do Gilberto Freyre, tem origem em uma outra mitologia que é a chamada democracia racial brasileira. Como se não tivéssemos um problema racial, o que não é verdade.

O Brasil é um dos países mais segregados do mundo. E isso se reflete na escola. Até recentemente, nos currículos escolares, a escravidão era um não assunto. Se eu passei pela Lei Áurea até o ensino médio, foi muito. Eu só realmente entendi a escravidão quando comecei a trabalhar profissionalmente nesse assunto, como pesquisador. A gente finge que não aconteceu. Temos uma visão de “vamos olhar para o futuro, o passado já acabou”.
Acho que um dos frutos da democracia no Brasil é justamente rever o passado. Mas isso, para mim, é uma grande notícia, porque vai nos tornar um pouco mais maduros, um pouco menos infantilizados ao olhar as nossas raízes e criar mitos a respeito do que nós gostaríamos de ter sido, mas não fomos. A elite brasileira, com raríssimas exceções, de direita, a esquerda e o centro, é de senhores de escravizados.
Todos nós, no Brasil, temos a ver com a escravidão, porque ou somos descendentes de pessoas escravizadas, no caso dos indígenas e africanos, ou somos descendentes de escravizadores, e aí a imensa maioria dos brancos, ou descendentes de imigrantes, que é o meu caso, por exemplo, que chegaram ao Brasil para substituir a mão de obra escravizada depois da abolição. Por isso que eu fico feliz com essa série de vocês [Projeto Escravizadores]. É um chamado à realidade, para a gente não levar adiante esse projeto nacional de autoengano, que só complica a construção do futuro do Brasil.
Por que isso acontece?
A gente recebe a versão do caçador. No primeiro volume de Escravidão, eu cito um ditado africano que diz que, enquanto o leão não aprender a escrever, a história será contada pelo caçador. Nós aprendemos a versão do colonizador branco, que não conta a história da escravidão com todos os seus horrores, os seus números, a sua extensão. Essa história foi sonegada até muito recentemente nos livros escolares e nas salas de aula. E, quando foi contada, era romantizada pelo olhar branco. Então, mesmo as obras abolicionistas mais importantes acabam tendo um viés branco, um olhar do branco que tenta redimir, entre aspas, uma raça oprimida.
O verdadeiro herói é o branco, não é o negro. O agente da justiça, o agente da transformação, não é o negro, é o branco. O movimento abolicionista tem esse viés. Nas obras do Joaquim Nabuco, por exemplo, tem uma denúncia forte da escravidão, muito boa, uma documentação histórica muito preciosa. Mas o protagonista é o branco. Dos quatro principais abolicionistas brasileiros, três eram negros. São eles: Joaquim Nabuco, Luis Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. Hoje o Joaquim Nabuco, que era branco, tem uma proeminência muito maior do que os outros três negros.
Desde que começamos a publicar as reportagens do Projeto Escravizadores, uma das coisas que a gente mais escuta é: “Mas por que mexer nisso? As pessoas de agora têm que pagar pelos erros do passado?”
Existe um pacto que se associa a “eu não escravizei ninguém”. Mas, se os seus antepassados escravizaram, você tem uma responsabilidade de olhar para o passado, porque a escravidão tem consequências no presente. Se o Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo, e pobreza no Brasil é sinônimo de negritude, significa que a escravidão não é um assunto encerrado e congelado no passado, é uma realidade presente no Brasil de hoje. E, se ela é hoje o nosso principal desafio, a nossa desigualdade social resultante da segregação racial, nós temos que olhar para o passado e entender que a elite brasileira tem uma licença no sistema escravista, fica mais fácil entender o Brasil de hoje e melhor para construir o Brasil do futuro também.

Nós temos relações escravistas nas relações do Estado, no comportamento do Estado, no comportamento privado. Nós somos um povo com raízes escravistas, a nossa elite é, infelizmente o nosso povo também é. Então, a melhor coisa que a gente faz é olhar para o passado e assumir que esse passado não deixou de existir, não evaporou. É uma realidade presente hoje nas ruas, na cidade, no campo. É só olhar e você vê a herança da escravidão.
O que o senhor acha sobre medidas de reparação de justiça social? O que deveria ser feito?
Sou a favor. O Brasil teve uma ditadura militar durante 20 anos. Depois nós tivemos uma Comissão da Verdade que apurou os crimes cometidos pela ditadura e recomendou uma série de medidas. Pouquíssimas foram adotadas e, em razão disso, a impunidade no meio militar continua até hoje. Isso explica o golpismo do meio militar durante o governo Bolsonaro, porque nunca houve a devida responsabilização. Isso vale para a escravidão também.

As consequências da escravidão continuam presentes entre nós e impedindo que o Brasil se torne um país democrático de fato, e rico e desenvolvido e justo. Então, é muito importante que não apenas nós olhemos o passado, tiremos lições, assumamos responsabilidades pelo que aconteceu, mas que, na medida do possível, com políticas públicas adequadas, nós tomemos providências. Existem inúmeras maneiras de fazer isso. Uma delas são as chamadas políticas de reparação, especialmente a política de cotas.
Existe um nível de pobreza no Brasil que está principalmente associado à cor da pele, em que a pessoa sozinha não consegue se promover. A pessoa que está mergulhada na miséria, que faz parte de uma família que não tem condições de moradia, educação, saúde e oportunidades adequadas, ela não vai conseguir se promover sozinha. Nós temos que apoiar a lei de cotas pelo seu aspecto simbólico – é a primeira vez que o Brasil tenta corrigir a sua herança escravocrata –, mas também porque ela dá resultados. As estatísticas mostram que tem aumentado o número de estudantes, mestres, doutores, diretores, altos funcionários da organização pública, negros.
O correto seria que todos os brasileiros tivessem condições iguais de competir pelas melhores oportunidades na vida adulta, mas isso não existe. Então, a política de cotas e outras políticas de reparação, como, por exemplo, o Bolsa Família, tentam corrigir no meio um processo que está viciado na sua origem. Mas não pode ser permanente. Se daqui a 500 anos a gente tiver ainda política de cotas e reparação, significa que nós falhamos totalmente.
Então, o senhor acha que existe a possibilidade de algum dia o Brasil ser uma nação mais igualitária, e a única maneira de chegar nisso é por meio dessas políticas de cotas e reparação?
Eu acho que sim. Por incrível que pareça, sou otimista. Embora tenha me debruçado sobre um período muito sombrio da história do Brasil, eu acho que nós temos uma grande novidade em andamento, que são 40 anos de democracia. Porque tudo o que nós vimos até o fim da ditadura militar foi uma continuação de um projeto de submissão, de exploração de uma parte da imensa maioria do povo brasileiro por uma elite muito pequena, muito branca, que dominava todo o aparato do Estado, todas as oportunidades também na área privada, e não permitia que os demais brasileiros sequer se manifestassem, participassem politicamente na construção do futuro. A democracia está mudando isso.
Não é à toa que esteja se tornando mais comum discutir as nossas raízes, a corrupção, a violência, a escravidão, a misoginia brasileira. Persistir na democracia é a única maneira de fazer com que esse país, no futuro, seja mais justo e mais igualitário.

Para as matérias do projeto Escravizadores, nós conseguimos traçar com certa tranquilidade a genealogia da elite branca. Mas dos negros e indígenas não tem praticamente nada de registros oficiais. Como você fez a sua pesquisa? Teve que se basear em relatos orais?
O Brasil é um país branco do ponto de vista da documentação histórica. Se você quiser construir a minha árvore genealógica ou a sua, é fácil. Tem registro em cartório, certidão de nascimento, casamento, óbito. No caso da escravidão, não.
O africano era arrancado de suas raízes e passava por um processo de morte social, como disse o pesquisador de Harvard Orlando Patterson. Ele tinha que trocar de nome, religião, chegava até a ser marcado a ferro quente, como um animal. Ele nunca mais tinha contato com a sua cultura, sua família, sua língua, suas crenças religiosas. Um processo completo de desenraizamento. Isso incluía a documentação, que não existia. E boa parte da documentação que existiu foi mandada incinerar pelo Rui Barbosa, depois da proclamação da República.
Para pesquisar sobre essas pessoas, você tem pouca documentação, algumas certidões de batizado nas igrejas, nas irmandades religiosas negras, em documentação de compra e venda de pessoas escravizadas, inventários. Mas essa documentação está sempre corrompida. Porque, geralmente, quando o africano chegava ao Brasil, era obrigado a adotar o nome do seu senhor ou da região da África de onde ele vinha. Depois que eu terminei a trilogia, recebi muitas mensagens de pessoas negras que me pedem ajuda para recuperar suas raízes. Eu respondo que, infelizmente, não consigo ajudar. É muito difícil recuperar essa memória. A memória brasileira é uma memória branca.

Nos últimos anos, a gente tem percebido que muitas pessoas passaram a se identificar como negras, a procurar entender o seu passado. E isso acontece em um momento de levante conservador em todo o mundo. É um contrassenso?
Acho que o que nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo é um tipo de pororoca. Tem uma onda que volta e tenta encobrir o rio, mas o rio é bem grande. Há o nascimento de uma nova consciência de gênero, classe, racial, um mundo mais conectado, com democratização da cultura, da informação, do entretenimento. E há uma reação das elites conservadoras que não aceitam a mudança em curso.
Hoje, há grupos sociais se posicionando e discutindo abertamente e pressionando por políticas públicas novas, por comportamentos novos. Isso no passado não era permitido. Mas eu acho que é impossível de conter a mudança. Hoje nós vivemos num ambiente de muita pluralidade, de uma transformação na consciência cívica das pessoas. Isso vai gerar mais resultados no longo prazo do que uma reação conservadora, que eu acho que é conjuntural, é momentânea.
Então não tem como a gente retroceder tanto a ponto de perdermos a democracia?
Acho que não, mas esse processo não é linear. O ex-presidente Barack Obama falou numa entrevista, logo depois da eleição do primeiro mandato de Donald Trump, que a democracia é uma linha em zigue-zague. A gente avança, retrocede, tenta de novo, erra, aí, depois, acerta. A Alemanha nazista, por exemplo, aconteceu num dos países mais avançados da Europa em termos de ciência e cultura. Podem haver retrocessos momentâneos, como está havendo, mas, no longo prazo, a justiça e a democracia vão prevalecer.
Eu tenho 68 anos, o mundo que eu sonhava não aconteceu. Mas, ainda assim, sou otimista. Não acho que o futuro do Brasil seja de opressão e de ditadura. Acho que é o contrário. Acho que estamos caminhando e persistindo na democracia.


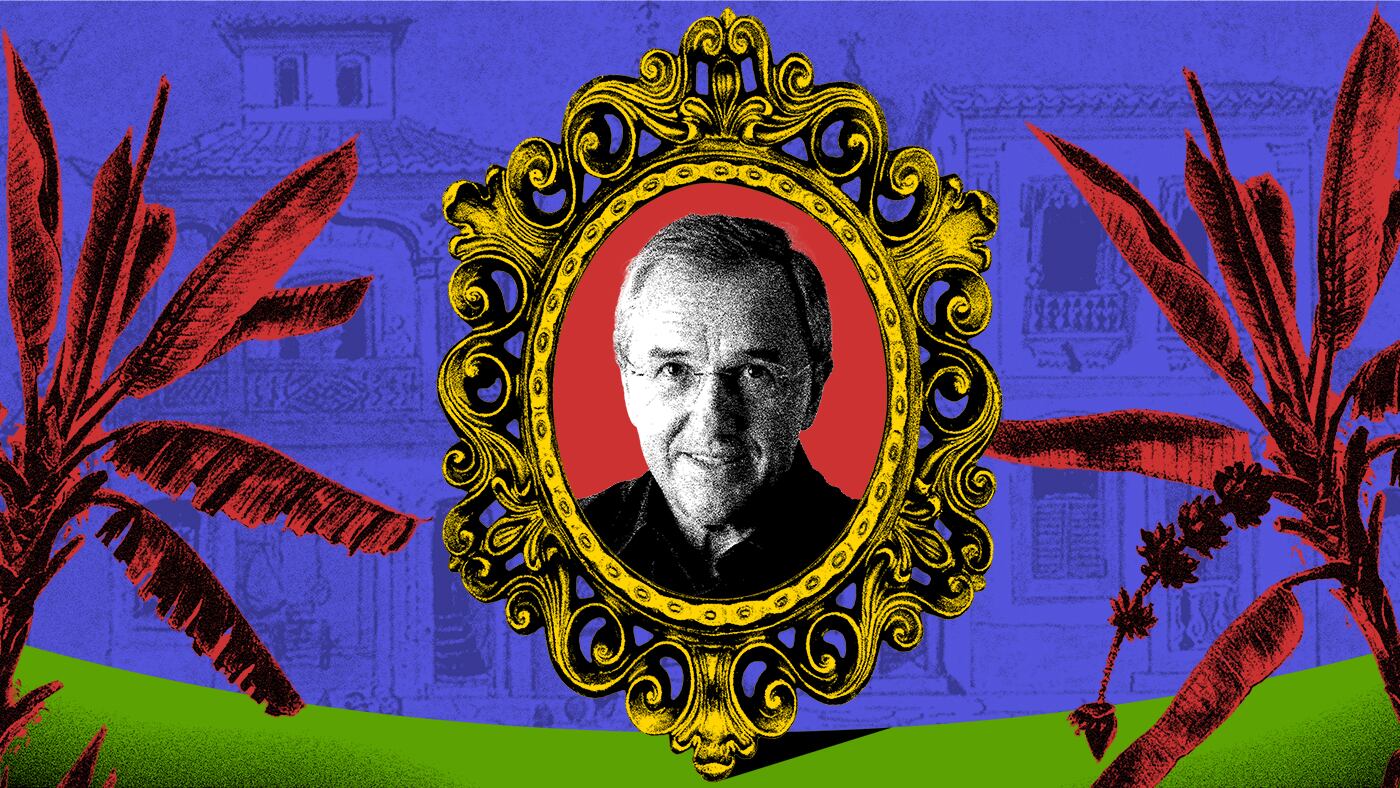



 PayPal
PayPal 

















